
Depois do espetáculo
(reflexões sobre a tese 4 de Guy Debord)(1 )
Juremir Machado da Silva (2)
Resumo: este estudo reflete sobre a passagem da “sociedadedo espetáculo”, anunciada e denunciada por Guy Debord, em1967, ao hiper-espetáculo ou sociedade “midiocre”.Palavras-chave: 1. Imaginário 2. Tecnologias 3. Tecnologias do imaginário4. Sociedade do espetáculo 5. Cultura 6. Comunicação.
O espetáculo acabou. Estamos agora no hiperespetáculo.
O espetáculo era a contemplação. Cada indivíduo abdicava do seu papel de protagonista para tornar-se espectador. Mas era uma contemplação do outro, um outro idealizado, a estrela, a vedete, os “olimpianos”3. Um outro radicalmente diferente e inalcançável, cuja fama era ou deveria ser a expressão de uma realização extraordinária.
No espetáculo, o contemplador aceitava viver por procuração. Delegava aos “superiores” a vivência de emoções e de sentimentos que se julgava incapaz de atingir.
No hiper-espetáculo, a contemplação continua. Mas é uma contemplação de si mesmo num outro, em princípio, plenamente alcançável, semelhante ou igual ao contemplador.
Na era das celebridades, época da “democracia radical”, em que todos devem ter direito ao sucesso, os famosos simulam uma superioridade fictícia. São tantos mais adorados quanto menos se diferenciam realmente dos fãs. A identificação deve ser total e reversível. Cada um deve poder se imaginar no lugar da estrela ou do objeto da sua admiração e aspirar à condição de famoso. Não há mais alteridade verdadeira. O outro é “eu” que deu certo graças às circunstâncias. O preço da fama parece estar ao alcance de qualquer um.
O espetáculo era um dispositivo de controle por meio da sedução. No hiper-espetáculo, quando tudo se torna tela, cristal líquido e captação de imagem, todo controle é remoto. Passamos da manipulação, estágio primitivo da dominação das mentes, e da “servidão voluntária”, degrau superior da manipulação, à imersão total. Evoluímos da participação, que pressupunha um sujeito e uma idéia de política, para a interatividade, que reclama um jogador desinteressado. A bem da verdade, a interatividade já pertence ao passado, embora dela se fale muito como se fosse uma novidade. Estamos aquém e além dela: na adesão.
Submissão pelo desejo e pela consciência plena dessa vontade soberana. Queremos conscientemente o que desejamos.
Guy Debord, na sua profética tese 4, escreveu: “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens (1997, p. 14).
Esqueçamos Debord. Ao menos, o Debord marxista e utópico. Não estamos mais em situação. O espetáculo terminou por excesso de aplauso e falta de crítica. Mas a tese 4 sempre pode ser declinada de outras formas:
1. O imaginário não é conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens.
2. O simulacro não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens.
3. A socialidade não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens.
O espetáculo era uma imagem do mundo. O hiperespetáculo é uma imagem de si mesmo. O espetáculo acabou junto com a ilusão do controle e da disciplina. Ainda não estamos, porém, no descontrole, embora o caos urbano apresente performances exemplares. Estamos na época do “sorria, você está sendo filmado”. Apogeu do Big Brother como divertimento de massa. A câmara total, contudo, não inibe nem coíbe. Apenas registra. Positividade absoluta. Positivismo total. Enfim, a neutralidade. Salvo se for indiferença como princípio geral da isonomia. Quando tudo é tela, a imagem torna-se a única realidade visível.
Ao contrário do que pensam alguns, a mídia não nos diz o que falar. Nem sobre o que falar. Mas em torno do que falar. A imagem é um totem vazio de conteúdo e cheio de atrações. O hiper-espetáculo é a imagem enfim liberada de uma possível essência. Imagem sem sombra. Quando tudo é imagem, não há mais o que refletir. O hiper-espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma imagem única, sob a aparência da diversidade, que não permite reflexão. Imagem irrefletida. Nem utopia nem distopia. Pode-se mudar de canal, mas não de programa. Pode-se mudar de rede, mas não de sentido. Salvo se estivermos numa transição, digamos assim, um intervalo. Comercial. Anúncio ou anunciação?
A utopia persiste como remake exibido em Sessões da Tarde acadêmicas. A distopia é servida no horário nobre como ficção científica. Tudo depende do patrocinador. No virtual, o melhor espaço tem, como sempre, um preço elevado. Quando tudo é imagem, porém, na “tela total”, não há mais espelho. Nem sombra. Fim do contraste. Fim tranqüilo. Sem tragédia nem trama. No hiper-espetáculo, a comédia impera. Nessa sociedade do paradoxo, aquém e além da objetividade, todas as escolhas são possíveis. Afinal, estamos na “saciedade” da (in)diferença.
O espetáculo cria um imaginário disciplinar, sedutor, suavemente manipulatório, uma socialidade virtual por excelência, da qual todos participam afetivamente, uns como atores, os demais como platéia, no isolamento interativo do lar, navegando agarrado no parapeito do sofá. O espetáculo era um simulacro de participação. Ao desmascará-lo, Guy Debord sonhava com a quebra do controle, a libertação, a emancipação, a autonomia, a redenção. Pobre Debord, tão ingênuo! Foi o espelho marxista que se quebrou. Debord nunca poderia imaginar que um Gilles Lipovetsky seria mais crítico e lúcido do que ele. A ironia sempre se supera. O hiper-espetáculo existe em tempo real, 24 horas por dia. Não pode haver emancipação quando todos escolhem mergulhar na mesma tela líquida e transparente, declarando, nas pesquisas de opinião, sentir-se felizes apesar de tudo.
O espetáculo pressupunha um outro mundo invisível, um anti-espetáculo, a transparência absoluta. O hiperespetáculo entroniza a visibilidade. Tudo é simbólico. Tudo é imaginário. Nada há por trás da imagem, nenhum truque a desvendar, nenhuma missão a cumprir. Nada há para ser demonstrado. Somente para ser mostrado. O hiper-espetáculo não é o fim da história, mas somente uma história sem fim ou o fim de uma novela, que terá continuação na seguinte.
Logo vem a próxima, sempre igual e diferente, eterno retorno da imagem como cola social e como simulacro de interação delegada. É a radicalidade que se esfacela.
O hiper-espetáculo não é a eliminação do espetáculo, mas a sua aceleração plasmada no bandido que sorri para a câmera antes de atirar ou no aumento dos rendimentos de Daniela Ciccareli depois de ser filmada puxando o biquíni para receber, numa praia espanhola, “o doce veneno do escorpião”. Doce vulgaridade da sofisticação. Material para teses sobre o fim do privado e a prostituição do público. O hiper-espetáculo é um albergue espanhol. Os críticos do espetáculo nutriram a ilusão da ruptura. Eram bons marxistas que se viam no espelho rachado da história como membros da vanguarda iluminadora do caminho dos alienados.
No hiper-espetáculo, entretanto, tudo se inverteu: os supostos alienados zombam dos seus “libertadores” e os acusam de alienação elitista ou, pior do que isso, de manipulação por excesso de ignorância e de boas intenções.
Passamos da cultura de massa à sociedade “midíocre”. A separação entre alto e baixo, erudito e popular, massivo e elitista, dissolveu-se numa categoria de marketing: nicho de mercado. Aquilo que era diferença ideológica se converteu em segmentação. Na passagem do espetáculo ao hiper-espetáculo, por força do gosto do público e do fracasso das grandes produções revolucionárias, a primeira vítima foi o roteirista. Adeus aos épicos! Adeus ao protagonista universal! Adeus ao herói fundador! O tempo agora é do cotidiano e das minisséries regionalistas.
Todas as leituras continuam em aberto. O hiperespetáculo é a comunhão em torno da imagem (interpretação a partir de Michel Maffesoli); o hiper-espetáculo é a imagem como simulacro ou deserção do real (viés baudrillardiano); o hiper-espetáculo é a fase superior do capital simbólico (à la Bourdieu); o hiper-espetáculo é um dispositivo aprimorado de controle total e suave (para foucaultianos).
Nenhuma hipótese é descartável. A mais envolvente, contudo, é esta: o hiper-espetáculo nada mais é do que a vida como ela é, uma longa história feita de contradições e de novas episódios. Algo, porém, é inquestionável: o hiperespetáculo
põe fim ao happy end hollywoodiano acalantado pelos marxistas por quase dois séculos.
Isso não significa que toda história termine mal.
Significa apenas que o controle permanece ainda mais remoto na medida em que está ao alcance da mão. No hiperespetáculo, a imagem pode ser pura aparência. Além do bem e do mal. Pois no hiper-espetáculo não há mais revelação. O espetáculo era analítico. O hiper-espetáculo é digital. Forma sem fundo. Isso tudo não se resume a um mero jogo de palavras. O hiper-espetáculo é uma questão de palavras em jogo. Nesse sentido, o hiper-espetacular é:
- Comunhão sem Deus.
- Convivência sem vínculo.
- Afetividade sem compromisso.
- Mudança sem revolução.
- Consumo sem consumição.
- Imersão sem causa.
- Interatividade sem participação.
- Entrega total por tempo parcial.
No espetáculo, as estrelas aspiravam à eternidade.
Ídolo e fã imaginavam um casamento até que a morte os separasse. No hiper-espetáculo predomina o “ficar”. Tudo é deliciosa e perigosamente passageiro. O mais importante é a qualidade da relação, não o seu tempo de duração. A oposição ao espetáculo tomou a forma tradicional da crítica. Os comentários sobre o hiper-espetáculo só podem adotar a perspectiva irônica, a única a ser levada a sério nestes tempos tragicômicos. Apenas velhas tias solteironas ainda praticam a crítica. E alguns acadêmicos nostálgicos. A crítica não passa agora de uma verdade que se tornou verdadeira demais e soçobrou na trivialidade.
O hiper-espetáculo exige uma crítica publicitária: conceitos novos, ágeis, sucintos, desconcertantes e divertidos. Debord escreveu 221 teses sobre o espetáculo. Um publicitário teria apostado tudo na tese 4.
Todo Debord está nela e por ela é negado:
1. “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens” (1997, p. 14).
2. A cultura hiper-espetacular não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens.
3. O hiper-espetacular não é um conjunto de imagens espetaculares, mas uma relação social entre telespectadores mediada por imagens banalizadas e repetidas à exaustão.
A crítica ao espetáculo era ética. A ironia em relação ao hiper-espetáculo só pode ser estética. Nada de novo no front frankfurtiano? O novo é um produto que, cada vez mais, depende da embalagem. Nosso comerciais, por favor!
O hiper-espetáculo é a imagem sem sua sombra, e o produto cultural com o seu make-off revisado e corrigido. Chegamos, parafraseando Michel Maffesoli, ao fundo das aparências. Um abismo sem precedentes e paradoxalmente sem fundo.
Guy Debord é o homem do século. Passado.
O capital social não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre competidores mediada por imagens de auto-divulgação. O importante não é fazer, mas ser visto fazendo, mesmo que seja um fazer inútil. A utilidade é prosaica. A inutilidade é pura poesia, despesa sem fundo. O capital social é relação política mediada por simulações, estratégias, simulacros e representações que geram um imaginário da sociabilidade como vínculo, comunidade e prazer. A imagem é uma imagem de si mesma.
- Imagem que se faz do outro.
- Imagem de si projetada no outro.
- Imagem que o outro tem de nós.
- Imagem de nós mesmos que desejamos transmitir ao outro.
- Imagem da imagem que idealizamos como imagem padrão.
O hiper-espetáculo é a vitória da imagem à la carte, pay-per-view ao alcance de todos contra a arbitrariedade de uma emissão de massa. No hiper-espetáculo, como imaginário da fama, a visibilidade ofusca o seu negativo. O conteúdo pode ser preenchido com silicone. Afinal, estamos no póshumano e nada impede que o saber seja uma prótese. O importante é fazer parte da tribo dos famosos, comungar os valores da celebridade e celebrar o valor simbólico.
A sociedade “midíocre” é uma interminável revista Contigo. O hiper-espetáculo é a conjugação da aneroxia com o silicone. Mais e menos.
A tese 4 encontra eco na tese 207: “As idéias melhoram. O sentido das palavras entra em jogo. O plágio é necessário. O progresso supõe o plágio.
Ele se achega à frase de um autor, serve-se de suas expressões, apaga uma idéia errônea, a substitui pela idéia correta” (Debord, 1997, p. 134). A produção de conhecimentos é uma relação social entre autores que se plagiam e corrigem mutuamente num colossal esforço de cooperação não consentida e de competição autorizada.
O capital social pode ser obtido por evasão de divisas imaginárias ou por lavagem de intimidades privadas em público. Depois do espetáculo, felizmente, não há moralismo. Moral da história: cenas dos próximos capítulos.
Cenas da vida hipermoderna. Estamos mais cínicos. Logo mais lúcidos. Mas hedonistas. Menos crédulos. Só cremos de fato na publicidade feita pelos famosos. Como resistir a um celular legitimado por Ciccarelli depois da transa na praia? O hiper-espetáculo reinventa a legitimação. O homem “midíocre” enterrou a metafísica e tornou-se pragmático. Se lhe perguntam pelo tempo, responde sem hesitar: chove.
Definitivamente o hiper-espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma imagem de conjunto num tempo de mutação tecnológica. Não uma falsa totalidade, mas uma totalidade feita de nem falso nem verdadeiro num tempo imediato. Na lógica do hiper-espetáculo o 11 de setembro não aconteceu. Foi produzido. O homem “midíocre”, o hiper-espectador, não pprdem em nada para os seus antepassados. É uma imagem de síntese. Um holograma. Uma fotografia de si mesmo. O homem da sociedade do espetáculo contemplava o herói na tela da televisão e do cinema. Ou, como já ironizava Jean Baudrillard, enterrava-se no vácuo: “A imagem do homem sentado, contemplando, num dia de greve, sua tela de televisão vazia, constituirá no futuro uma das mais belas imagens da antropologia do século XX” (1990, p. 19). O século XX é agora uma vaga lembrança. Baudrillard acertou ao se fixar na idéia de uma imagem. O homem da sociedade “midíocre” é novamente protagonista: ele se vê no Big Brother da televisão na pele de um clone seu; além disso, vê no Big Brother do lotação e sorri para a câmara mesmo sabendo que ela não está lá. O homem “midíocre” simula o simulacro do qual é mero e passivo contemplador. Vive plenamente o seu papel na tela do computador, do telefone celular e da câmera digital. Coleciona imagens. O espetáculo era a representação do imaginário moderno. Algo designado para ser superado. O hiperespetáculo é um imaginário sem representação. Imagem nua.
Deliciosamente obscena. Prostituição sem sexo. Vínculo sem relação. Afetação sem afeto. Imagem sem ocultação. Culto da imagem desencarnada. Fim da iconoclastia. Imagem irrefletida. Depois do espetáculo, após a última cena, começa o primeiro ato: a vida sem contemplação. O crítico não se vê no espelho. Resta o replay de um gol imaginário, hiper-real, real mais real que o real por subtração, aceleração e substituição. O hiper-real, no entanto, não é mais espetacular que o espetacular. É somente o espetáculo depois do fim. Ponto final. Depois do fim das ilusões, do fim das previsões, do fim das leis da história, do fim da idéia de fim. O hiper-espetáculo é um enredo sem fim.
Nem finalidade.
No espetáculo, a imagem de uma execução tinha ou deveria ter algum significado, um fim, uma finalidade. No hiper-espetáculo, a imagem de Saddam Hussein morto, por enforcamento, é apenas uma fotografia de celular, um clichê da barbárie no apogeu da civilização, obtido com uma câmera furtiva de celular para ser vendido às grandes redes de televisão e disseminado exaustivamente na Internet como um vírus do mal absoluto. Não mais que uma imagem sensacional, conseguida no fechamento do ano, para uma boa retrospectiva. Uma iagem para o You Tube. Uma imagem para concorrer com a cabeçada de Zidane e com o gesto de Ciccareli afastando o biquíni para ser penetrada pelo namorado no hit parade das imagens mais loucas do ano. Não há verdade nem mentira no hiper-espetáculo.
Somente imagens para voyeurs. Imagens viróticas. Mortalmente obscenas: o olhar firme de Saddam quando lhe ajeitaram a corda no pescoço; a discussão com os carrascos; a oração como um desafio; o olhar sereno de Bush depois de mentir para justificar a invasão do Iraque e de justificar a morte de Saddam com a mentira de um julgamento sob encomenda. Vale lembrar: ideologia é sempre o pensamento do outro; barbárie é sempre a loucura alheia. Imagens. Apenas. No ápice da civilização, a sociedade “midíocre” e hiper-espetacular, impera a lei de talião: olho por olho, dente por dente, pescoço por pescoço, imagem por imagem. A pena de morte é o outro nome do assassinato. Estatal. Mesmo que se trate de assassinar um assassino. O que restará de tudo isso? O que restará desses processos midiáticos pretensamente exemplares? Nada mais do que imagens. Se o 11 de setembro rompeu a “greve dos acontecimentos” na linguagem de Jean Baudrillard ele já não passa agora de uma imagem de retrospectiva, um cartão postal da estupidez humana com grandes chances de integrar o álbum das imagens do século XXI. A imagem do segundo avião avançando para bater na torre será certamente uma das imagens
antropológicas mais exatas para indicar o exato momento do fim. Fim da humanidade. O humanismo já estava morto desde a Segunda Guerra Mundial. Fim de uma imagem de homem. Fim do romantismo niilista de Baudrillard. A imagem do homem sentado, num dia de greve, em frente à sua televisão fazia não pode mais acontecer. Era uma imagem do espetáculo. A grave geral acabou. A tecnologia liquidou as telas vazias. A solidão agora (ver Dominique Wolton) é interativa. Os homens vivem em rede. Em outros tempos talvez se ouvisse a exclamação do personagem de Conrad em “Coração das trevas”: “O Horror! O Horror!” Hoje, o horror é um elemento da vida cotidiana e da tela banal. Definitivamente o mundo nunca mais será o mesmo depois das fotografias de celular e do You Tube.
O estado assassino não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens.
Notas
1 Trabalho apresentado ao GT Comunicação e Cultura.
No espetáculo, o contemplador aceitava viver por procuração. Delegava aos “superiores” a vivência de emoções e de sentimentos que se julgava incapaz de atingir.
No hiper-espetáculo, a contemplação continua. Mas é uma contemplação de si mesmo num outro, em princípio, plenamente alcançável, semelhante ou igual ao contemplador.
Na era das celebridades, época da “democracia radical”, em que todos devem ter direito ao sucesso, os famosos simulam uma superioridade fictícia. São tantos mais adorados quanto menos se diferenciam realmente dos fãs. A identificação deve ser total e reversível. Cada um deve poder se imaginar no lugar da estrela ou do objeto da sua admiração e aspirar à condição de famoso. Não há mais alteridade verdadeira. O outro é “eu” que deu certo graças às circunstâncias. O preço da fama parece estar ao alcance de qualquer um.
O espetáculo era um dispositivo de controle por meio da sedução. No hiper-espetáculo, quando tudo se torna tela, cristal líquido e captação de imagem, todo controle é remoto. Passamos da manipulação, estágio primitivo da dominação das mentes, e da “servidão voluntária”, degrau superior da manipulação, à imersão total. Evoluímos da participação, que pressupunha um sujeito e uma idéia de política, para a interatividade, que reclama um jogador desinteressado. A bem da verdade, a interatividade já pertence ao passado, embora dela se fale muito como se fosse uma novidade. Estamos aquém e além dela: na adesão.
Submissão pelo desejo e pela consciência plena dessa vontade soberana. Queremos conscientemente o que desejamos.
Guy Debord, na sua profética tese 4, escreveu: “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens (1997, p. 14).
Esqueçamos Debord. Ao menos, o Debord marxista e utópico. Não estamos mais em situação. O espetáculo terminou por excesso de aplauso e falta de crítica. Mas a tese 4 sempre pode ser declinada de outras formas:
1. O imaginário não é conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens.
2. O simulacro não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens.
3. A socialidade não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens.
O espetáculo era uma imagem do mundo. O hiperespetáculo é uma imagem de si mesmo. O espetáculo acabou junto com a ilusão do controle e da disciplina. Ainda não estamos, porém, no descontrole, embora o caos urbano apresente performances exemplares. Estamos na época do “sorria, você está sendo filmado”. Apogeu do Big Brother como divertimento de massa. A câmara total, contudo, não inibe nem coíbe. Apenas registra. Positividade absoluta. Positivismo total. Enfim, a neutralidade. Salvo se for indiferença como princípio geral da isonomia. Quando tudo é tela, a imagem torna-se a única realidade visível.
Ao contrário do que pensam alguns, a mídia não nos diz o que falar. Nem sobre o que falar. Mas em torno do que falar. A imagem é um totem vazio de conteúdo e cheio de atrações. O hiper-espetáculo é a imagem enfim liberada de uma possível essência. Imagem sem sombra. Quando tudo é imagem, não há mais o que refletir. O hiper-espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma imagem única, sob a aparência da diversidade, que não permite reflexão. Imagem irrefletida. Nem utopia nem distopia. Pode-se mudar de canal, mas não de programa. Pode-se mudar de rede, mas não de sentido. Salvo se estivermos numa transição, digamos assim, um intervalo. Comercial. Anúncio ou anunciação?
A utopia persiste como remake exibido em Sessões da Tarde acadêmicas. A distopia é servida no horário nobre como ficção científica. Tudo depende do patrocinador. No virtual, o melhor espaço tem, como sempre, um preço elevado. Quando tudo é imagem, porém, na “tela total”, não há mais espelho. Nem sombra. Fim do contraste. Fim tranqüilo. Sem tragédia nem trama. No hiper-espetáculo, a comédia impera. Nessa sociedade do paradoxo, aquém e além da objetividade, todas as escolhas são possíveis. Afinal, estamos na “saciedade” da (in)diferença.
O espetáculo cria um imaginário disciplinar, sedutor, suavemente manipulatório, uma socialidade virtual por excelência, da qual todos participam afetivamente, uns como atores, os demais como platéia, no isolamento interativo do lar, navegando agarrado no parapeito do sofá. O espetáculo era um simulacro de participação. Ao desmascará-lo, Guy Debord sonhava com a quebra do controle, a libertação, a emancipação, a autonomia, a redenção. Pobre Debord, tão ingênuo! Foi o espelho marxista que se quebrou. Debord nunca poderia imaginar que um Gilles Lipovetsky seria mais crítico e lúcido do que ele. A ironia sempre se supera. O hiper-espetáculo existe em tempo real, 24 horas por dia. Não pode haver emancipação quando todos escolhem mergulhar na mesma tela líquida e transparente, declarando, nas pesquisas de opinião, sentir-se felizes apesar de tudo.
O espetáculo pressupunha um outro mundo invisível, um anti-espetáculo, a transparência absoluta. O hiperespetáculo entroniza a visibilidade. Tudo é simbólico. Tudo é imaginário. Nada há por trás da imagem, nenhum truque a desvendar, nenhuma missão a cumprir. Nada há para ser demonstrado. Somente para ser mostrado. O hiper-espetáculo não é o fim da história, mas somente uma história sem fim ou o fim de uma novela, que terá continuação na seguinte.
Logo vem a próxima, sempre igual e diferente, eterno retorno da imagem como cola social e como simulacro de interação delegada. É a radicalidade que se esfacela.
O hiper-espetáculo não é a eliminação do espetáculo, mas a sua aceleração plasmada no bandido que sorri para a câmera antes de atirar ou no aumento dos rendimentos de Daniela Ciccareli depois de ser filmada puxando o biquíni para receber, numa praia espanhola, “o doce veneno do escorpião”. Doce vulgaridade da sofisticação. Material para teses sobre o fim do privado e a prostituição do público. O hiper-espetáculo é um albergue espanhol. Os críticos do espetáculo nutriram a ilusão da ruptura. Eram bons marxistas que se viam no espelho rachado da história como membros da vanguarda iluminadora do caminho dos alienados.
No hiper-espetáculo, entretanto, tudo se inverteu: os supostos alienados zombam dos seus “libertadores” e os acusam de alienação elitista ou, pior do que isso, de manipulação por excesso de ignorância e de boas intenções.
Passamos da cultura de massa à sociedade “midíocre”. A separação entre alto e baixo, erudito e popular, massivo e elitista, dissolveu-se numa categoria de marketing: nicho de mercado. Aquilo que era diferença ideológica se converteu em segmentação. Na passagem do espetáculo ao hiper-espetáculo, por força do gosto do público e do fracasso das grandes produções revolucionárias, a primeira vítima foi o roteirista. Adeus aos épicos! Adeus ao protagonista universal! Adeus ao herói fundador! O tempo agora é do cotidiano e das minisséries regionalistas.
Todas as leituras continuam em aberto. O hiperespetáculo é a comunhão em torno da imagem (interpretação a partir de Michel Maffesoli); o hiper-espetáculo é a imagem como simulacro ou deserção do real (viés baudrillardiano); o hiper-espetáculo é a fase superior do capital simbólico (à la Bourdieu); o hiper-espetáculo é um dispositivo aprimorado de controle total e suave (para foucaultianos).
Nenhuma hipótese é descartável. A mais envolvente, contudo, é esta: o hiper-espetáculo nada mais é do que a vida como ela é, uma longa história feita de contradições e de novas episódios. Algo, porém, é inquestionável: o hiperespetáculo
põe fim ao happy end hollywoodiano acalantado pelos marxistas por quase dois séculos.
Isso não significa que toda história termine mal.
Significa apenas que o controle permanece ainda mais remoto na medida em que está ao alcance da mão. No hiperespetáculo, a imagem pode ser pura aparência. Além do bem e do mal. Pois no hiper-espetáculo não há mais revelação. O espetáculo era analítico. O hiper-espetáculo é digital. Forma sem fundo. Isso tudo não se resume a um mero jogo de palavras. O hiper-espetáculo é uma questão de palavras em jogo. Nesse sentido, o hiper-espetacular é:
- Comunhão sem Deus.
- Convivência sem vínculo.
- Afetividade sem compromisso.
- Mudança sem revolução.
- Consumo sem consumição.
- Imersão sem causa.
- Interatividade sem participação.
- Entrega total por tempo parcial.
No espetáculo, as estrelas aspiravam à eternidade.
Ídolo e fã imaginavam um casamento até que a morte os separasse. No hiper-espetáculo predomina o “ficar”. Tudo é deliciosa e perigosamente passageiro. O mais importante é a qualidade da relação, não o seu tempo de duração. A oposição ao espetáculo tomou a forma tradicional da crítica. Os comentários sobre o hiper-espetáculo só podem adotar a perspectiva irônica, a única a ser levada a sério nestes tempos tragicômicos. Apenas velhas tias solteironas ainda praticam a crítica. E alguns acadêmicos nostálgicos. A crítica não passa agora de uma verdade que se tornou verdadeira demais e soçobrou na trivialidade.
O hiper-espetáculo exige uma crítica publicitária: conceitos novos, ágeis, sucintos, desconcertantes e divertidos. Debord escreveu 221 teses sobre o espetáculo. Um publicitário teria apostado tudo na tese 4.
Todo Debord está nela e por ela é negado:
1. “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens” (1997, p. 14).
2. A cultura hiper-espetacular não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens.
3. O hiper-espetacular não é um conjunto de imagens espetaculares, mas uma relação social entre telespectadores mediada por imagens banalizadas e repetidas à exaustão.
A crítica ao espetáculo era ética. A ironia em relação ao hiper-espetáculo só pode ser estética. Nada de novo no front frankfurtiano? O novo é um produto que, cada vez mais, depende da embalagem. Nosso comerciais, por favor!
O hiper-espetáculo é a imagem sem sua sombra, e o produto cultural com o seu make-off revisado e corrigido. Chegamos, parafraseando Michel Maffesoli, ao fundo das aparências. Um abismo sem precedentes e paradoxalmente sem fundo.
Guy Debord é o homem do século. Passado.
O capital social não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre competidores mediada por imagens de auto-divulgação. O importante não é fazer, mas ser visto fazendo, mesmo que seja um fazer inútil. A utilidade é prosaica. A inutilidade é pura poesia, despesa sem fundo. O capital social é relação política mediada por simulações, estratégias, simulacros e representações que geram um imaginário da sociabilidade como vínculo, comunidade e prazer. A imagem é uma imagem de si mesma.
- Imagem que se faz do outro.
- Imagem de si projetada no outro.
- Imagem que o outro tem de nós.
- Imagem de nós mesmos que desejamos transmitir ao outro.
- Imagem da imagem que idealizamos como imagem padrão.
O hiper-espetáculo é a vitória da imagem à la carte, pay-per-view ao alcance de todos contra a arbitrariedade de uma emissão de massa. No hiper-espetáculo, como imaginário da fama, a visibilidade ofusca o seu negativo. O conteúdo pode ser preenchido com silicone. Afinal, estamos no póshumano e nada impede que o saber seja uma prótese. O importante é fazer parte da tribo dos famosos, comungar os valores da celebridade e celebrar o valor simbólico.
A sociedade “midíocre” é uma interminável revista Contigo. O hiper-espetáculo é a conjugação da aneroxia com o silicone. Mais e menos.
A tese 4 encontra eco na tese 207: “As idéias melhoram. O sentido das palavras entra em jogo. O plágio é necessário. O progresso supõe o plágio.
Ele se achega à frase de um autor, serve-se de suas expressões, apaga uma idéia errônea, a substitui pela idéia correta” (Debord, 1997, p. 134). A produção de conhecimentos é uma relação social entre autores que se plagiam e corrigem mutuamente num colossal esforço de cooperação não consentida e de competição autorizada.
O capital social pode ser obtido por evasão de divisas imaginárias ou por lavagem de intimidades privadas em público. Depois do espetáculo, felizmente, não há moralismo. Moral da história: cenas dos próximos capítulos.
Cenas da vida hipermoderna. Estamos mais cínicos. Logo mais lúcidos. Mas hedonistas. Menos crédulos. Só cremos de fato na publicidade feita pelos famosos. Como resistir a um celular legitimado por Ciccarelli depois da transa na praia? O hiper-espetáculo reinventa a legitimação. O homem “midíocre” enterrou a metafísica e tornou-se pragmático. Se lhe perguntam pelo tempo, responde sem hesitar: chove.
Definitivamente o hiper-espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma imagem de conjunto num tempo de mutação tecnológica. Não uma falsa totalidade, mas uma totalidade feita de nem falso nem verdadeiro num tempo imediato. Na lógica do hiper-espetáculo o 11 de setembro não aconteceu. Foi produzido. O homem “midíocre”, o hiper-espectador, não pprdem em nada para os seus antepassados. É uma imagem de síntese. Um holograma. Uma fotografia de si mesmo. O homem da sociedade do espetáculo contemplava o herói na tela da televisão e do cinema. Ou, como já ironizava Jean Baudrillard, enterrava-se no vácuo: “A imagem do homem sentado, contemplando, num dia de greve, sua tela de televisão vazia, constituirá no futuro uma das mais belas imagens da antropologia do século XX” (1990, p. 19). O século XX é agora uma vaga lembrança. Baudrillard acertou ao se fixar na idéia de uma imagem. O homem da sociedade “midíocre” é novamente protagonista: ele se vê no Big Brother da televisão na pele de um clone seu; além disso, vê no Big Brother do lotação e sorri para a câmara mesmo sabendo que ela não está lá. O homem “midíocre” simula o simulacro do qual é mero e passivo contemplador. Vive plenamente o seu papel na tela do computador, do telefone celular e da câmera digital. Coleciona imagens. O espetáculo era a representação do imaginário moderno. Algo designado para ser superado. O hiperespetáculo é um imaginário sem representação. Imagem nua.
Deliciosamente obscena. Prostituição sem sexo. Vínculo sem relação. Afetação sem afeto. Imagem sem ocultação. Culto da imagem desencarnada. Fim da iconoclastia. Imagem irrefletida. Depois do espetáculo, após a última cena, começa o primeiro ato: a vida sem contemplação. O crítico não se vê no espelho. Resta o replay de um gol imaginário, hiper-real, real mais real que o real por subtração, aceleração e substituição. O hiper-real, no entanto, não é mais espetacular que o espetacular. É somente o espetáculo depois do fim. Ponto final. Depois do fim das ilusões, do fim das previsões, do fim das leis da história, do fim da idéia de fim. O hiper-espetáculo é um enredo sem fim.
Nem finalidade.
No espetáculo, a imagem de uma execução tinha ou deveria ter algum significado, um fim, uma finalidade. No hiper-espetáculo, a imagem de Saddam Hussein morto, por enforcamento, é apenas uma fotografia de celular, um clichê da barbárie no apogeu da civilização, obtido com uma câmera furtiva de celular para ser vendido às grandes redes de televisão e disseminado exaustivamente na Internet como um vírus do mal absoluto. Não mais que uma imagem sensacional, conseguida no fechamento do ano, para uma boa retrospectiva. Uma iagem para o You Tube. Uma imagem para concorrer com a cabeçada de Zidane e com o gesto de Ciccareli afastando o biquíni para ser penetrada pelo namorado no hit parade das imagens mais loucas do ano. Não há verdade nem mentira no hiper-espetáculo.
Somente imagens para voyeurs. Imagens viróticas. Mortalmente obscenas: o olhar firme de Saddam quando lhe ajeitaram a corda no pescoço; a discussão com os carrascos; a oração como um desafio; o olhar sereno de Bush depois de mentir para justificar a invasão do Iraque e de justificar a morte de Saddam com a mentira de um julgamento sob encomenda. Vale lembrar: ideologia é sempre o pensamento do outro; barbárie é sempre a loucura alheia. Imagens. Apenas. No ápice da civilização, a sociedade “midíocre” e hiper-espetacular, impera a lei de talião: olho por olho, dente por dente, pescoço por pescoço, imagem por imagem. A pena de morte é o outro nome do assassinato. Estatal. Mesmo que se trate de assassinar um assassino. O que restará de tudo isso? O que restará desses processos midiáticos pretensamente exemplares? Nada mais do que imagens. Se o 11 de setembro rompeu a “greve dos acontecimentos” na linguagem de Jean Baudrillard ele já não passa agora de uma imagem de retrospectiva, um cartão postal da estupidez humana com grandes chances de integrar o álbum das imagens do século XXI. A imagem do segundo avião avançando para bater na torre será certamente uma das imagens
antropológicas mais exatas para indicar o exato momento do fim. Fim da humanidade. O humanismo já estava morto desde a Segunda Guerra Mundial. Fim de uma imagem de homem. Fim do romantismo niilista de Baudrillard. A imagem do homem sentado, num dia de greve, em frente à sua televisão fazia não pode mais acontecer. Era uma imagem do espetáculo. A grave geral acabou. A tecnologia liquidou as telas vazias. A solidão agora (ver Dominique Wolton) é interativa. Os homens vivem em rede. Em outros tempos talvez se ouvisse a exclamação do personagem de Conrad em “Coração das trevas”: “O Horror! O Horror!” Hoje, o horror é um elemento da vida cotidiana e da tela banal. Definitivamente o mundo nunca mais será o mesmo depois das fotografias de celular e do You Tube.
O estado assassino não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens.
Notas
1 Trabalho apresentado ao GT Comunicação e Cultura.
2 Juremir Machado da Silva, Doutor em Sociologia pela Sorbonne, Paris V, é pesquisador do CNPq, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUCRS e autor, entre outros livros, de As Tecnologias do imaginário (Porto Alegre, Sulina, 2003).
3 Sobre estrelas, vedetes e olimpianos, cf. MORIN, Edgar. Les stars. Paris, Seuil, 1972.
4 Cf. BAUDRILLARD, Jean. “Big Brother: telemorfose e criação de poeira” in Revista Famecos. Porto Alegre, Edipucrs, nº 17, abril de 2002.
Bibliografia:
BAUDRILLARD, Jean (avec Enrique Valiente Noailles). Les exilés du dialogue. Paris, Galilée, 2005.
BAUDRILLARD, Jean. Le Pacte de lucidité, l’intelligence du mal. Paris, Galilée, 2004.
____ Tela total — mito-ironias da era do virtual e da imagem, Porto Alegre, Sulina, 1997.
___ Le crime parfait, Paris, Galilée, 1995.
___ A transparência do mal - ensaio sobre os fenômenos extremos, Campinas, Papirus, 1990.
___ Les stratégies fatales. Paris, Grasset, 1983.
DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro, Contraponto, 1997.
FLICHY, Patrice. L’Imaginaire d’Internet. Paris, La Découverte, 2001.
JAMESON, Frederc. Pós-modernismo - a lógica cultural do capitalismo tardio, São Paulo, Ática, 1996.
LÉVY, Pierre. La Machine univers, Création, cognitionet culture informatique, Paris, La Découverte, 1987.
___ As Tecnologias da inteligência, O futuro do pensamento na era da informática, Rio de Janeiro, Ed. 34, 1993.
LIPOVETSKY, Gilles. Les Temps hypermodernes. Paris, Grasset, 2004.
LYOTARD, Jean-François. O Pós-moderno, Rio de Janeiro, José Olympio, 1986.
MAFFESOLI, Michel. La conquête du présent, Pour une sociologie de la vie quotidienne. Paris, PUF, 1979.
___ La Connaissance ordinaire - précis de sociologie compréhensive, Paris, Librairie des Méridiens, 1985.
___ Le temps des tribus - le déclin de l'individualisme dans les sociétés de masse. Paris, Meridiens Klincksieck, 1988.
MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva. Lisboa, Edições 70, 1988.
MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem . São Paulo, Cultrix, 1969.
MORIN, Edgar. Les stars. Paris, Seuil, 1972.
NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital, São Paulo,
PARENTE, André (org.). Imagem máquina - a era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro, Editora 34,
ROSNAIS, Joel de, L’homme symbiotique - regards sur le troisième millénaire . Paris, Seuil, 1995.
SCHEER, Léo. La Démocratie virtuelle. Paris, Flammarion, 1994.
SFEZ, Lucien. “As Tecnologias do espírito”, in Revista Famecos — mídia, cultura e tecnologia, Porto Alegre, junho de 1997, n° 6, pp. 7-16.
SILVA, Juremir Machado. As Tecnologias do imaginário. Porto Alegre, Sulina, 2003.
VIRILIO, Paul. Vitesse et politique, Paris, Galilée,
WINKIN, Yves (org). La nouvelle communication. Paris, Seuil, 1981.









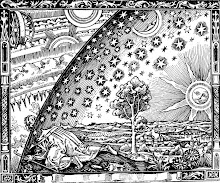

























































Nenhum comentário:
Postar um comentário