
por Paulo Borges - Presidente da União Budista Portuguesa
Fonte: http://www.uniaobudista.pt/dharma.php?show=textos&txtid=11
Se há temas que permitem ir ao cerne das questões, pelo próprio contraste entre os termos que equacionam, este é um deles: Budismo e identidade pessoal. Não tanto, todavia, porque o chamado budismo se constitua pela negação ou pela aspiração à anulação da chamada “identidade pessoal”, conforme vulgarmente se pensa. Na verdade, se quisermos ser rigorosos, de um rigor que não se acomode a séculos de interpretação do budismo segundo perspectivas cultural e psicologicamente redutoras, como os conceitos e valores da consciência ocidental de matriz helénica e judaico-cristã, ou os medos e expectativas do sujeito egocêntrico, é bem diferente o que encontramos na visão experiencial e no ensinamento do Buda, ou no Dharma do Buda, expressão que preferimos à de budismo, de origem ocidental e muitas vezes ainda hoje estranha aos seus praticantes orientais, que em seu lugar utilizam tradicionalmente uma expressão que podemos traduzir como “ciência interior” ou “ciência do espírito” .
Com efeito, de acordo com o próprio sentido da palavra Buda, que designa o estado Desperto ou Iluminado, o estado de reconhecimento da natureza última dos fenómenos e da mente, pela eliminação de todos os obscurecimentos emocionais e conceptuais permitindo o natural des-envolvimento de todas as qualidades cognitivas e afectivas - conforme a etimologia da palavra tibetana para Buda, San-gye - , o que o chamado budismo visa é um estado incondicionado por qualquer modo de ilusória dualidade cognitiva e afectiva, em termos de separação e relação entre sujeito e objecto, ou seja, a experiência disso que, na perspectiva ainda da mente condicionada, se designa como Iluminação e Libertação perfeita. A Natureza de Buda, natureza última e comum de todos os fenómenos e da mente, é assim absolutamente livre de todas as delimitações e antinomias conceptuais e verbais, metafísicas e onto-lógicas. Neste sentido, ela é alheia a todos os conceitos estruturadores do pensamento discursivo, nomeadamente os de ser e não ser, mesmo e outro, identidade e alteridade. Mas, contrariamente ao Princípio primeiro das metafísicas místicas orientais e ocidentais, como o Brahman hindu, o Uno/Bem de Plotino, o Inefável de Damáscio ou, de um modo geral, o Deus transcendente da revelação judaica e cristã ou das derivadas metafísicas de matriz neo-platónica, que tende a ser considerado como um Absoluto separado da experiência da mente e do mundo, algo que é em si e por si embora para além do próprio ser e de todas as determinações antinómicas do intelecto, a Natureza de Buda, na relatividade da sua expressão, é vacuidade (sânscrito: sunyata), no sentido, muito preciso, da ausência de essência, existência ou entidade intrínseca, em si e por si, ou seja, de substancialidade, não só de todas as coisas, fenómenos e sua correlata consciência, mas da própria vacuidade, a qual, ela mesma, é vazia ou desprovida de existência própria, não sendo nem não sendo, mera designação da verdadeira natureza de cada uma e de todas as coisas na sua universal aparição em interdependência . Alheia aos extremos conceptuais do ser e do não ser, da existência e da não existência, a Natureza de Buda, no seu aspecto de vacuidade, não é uma entidade metafísica positiva, negativa ou inefável, mas a verdade das coisas-fenómenos materiais e mentais, o seu tal qual ou talidade (sânscrito: tathata), inerente à sua manifestação interdependente, sem qualquer constituição ontológica autárquica, autónoma e própria. Neste sentido, a Natureza de Buda-vacuidade é a verdade absoluta e última do mundo, da totalidade da manifestação, inseparável de cada uma e de todas as coisas. Como se diz na versão tibetana do Sutra do Coração do Conhecimento Transcendente: “As formas são vazias; a própria vacuidade são as formas; a vacuidade não é diferente das formas; as formas não são diferentes da vacuidade” .
Deste modo, por uma busca com recurso à experiência sensível, à análise racional, ao recolhimento meditativo e à intuição sapiencial, livres de todos os pressupostos conceptuais, como os do substancialismo ingénuo, idealista ou realista, que reifica e ontifica à priori os termos da relação cognitiva, sujeito e objecto, o chamado budismo procede de uma experiência directa e não conceptual do real como algo de igualmente irredutível ao princípio de identidade e à sua negação, que seriam assim estranhos à natureza autêntica das coisas, por mais estranho que isso possa parecer a milenares e dominantes hábitos mentais. E, se bem que o âmago da experiência dos Budas seja a Iluminação, a visão das coisas tais como são, sem as ilusórias características, discriminações e limites da mente conceptual, natural é que, para que essa Iluminação naturalmente aconteça, ou melhor, se re-conheça, o ensinamento ou palavra dos Budas, o Dharma, vise eliminar pela raiz os obstáculos a tal reconhecimento, ou seja, os obscurecimentos conceptuais e emocionais que velam a natureza última da mente e dos fenómenos. Ora a raiz destes é exactamente a crença irracional e irreflectida, tornada um hábito mental e emocional inveterado, na substancialidade do eu e dos fenómenos, na sua essência, existência e distinção em si e por si, na sua consistência e subsistência intrínseca, separada da totalidade interdependente e dinâmica da manifestação. Por mais subtis que possam ser as formas que essa crença assume, nomeadamente as que integram a relação e a alteridade como constitutivas dessa substancialidade, ela persiste como o inquestionado e sacrossanto pressuposto teórico e prático não só do senso comum, como da maior parte das doutrinas científicas, filosóficas e religiosas que postulam a existência de um fundamento primeiro da constituição do mundo, ideal, real, espiritual, material ou transcendente unificador de todos os contrários. De óbvias origens religiosas e metafísicas, não é de desprezar a sua radicação psicofisiológica. Dir-se-ia que a obscura experiência psicofisiológica da existência independente do sujeito e dos objectos percepcionados, como unidades substanciais e simples, se projecta, reforça e cristaliza na milenar ideia metafísica e religiosa de um princípio primeiro e último, uno, único e absoluto, de uma causa incausada e transcendente de onde tudo procede, de um fundamento originário do ser e do pensar, consoante as conhecidas tendências teístas, monistas e monoteístas da experiência humana que pontuam de Oriente a Ocidente. Se tenho uma experiência do corpo e da mente como algo de meu, de próprio, como um mesmo ou algo que pertence a um mesmo por oposição e em relação a um outro, como uma entidade separada e autónoma, natural é que projecte essa experiência na análoga representação de um ser a partir do qual tudo procede, eu e todas as coisas , garantindo, por vezes apenas a mim e aos da minha espécie, num antropocentrismo grosseiro, a protecção neste mundo e a vida eterna no outro. A questão é que o facto de tal experiência da individualidade psicofisiológica se ter tornado habitual e quase única no presente ciclo histórico-cultural da humanidade ocidental e ocidentalizada não implica que ela seja necessária, normal, natural e verdadeira, parecendo-nos óbvio que não é jamais uma experiência feliz, como o prova o facto de os momentos mais gratificantes da nossa vida, e que nos deixam mais saudosos de uma plenitude entrevista, serem aqueles em que, por virtude de um grande amor e uma grande entrega, ou por via de uma absorção estética ou contemplativa, nos esquecemos do que julgamos ser e descobrimos uma dimensão mais ampla e iluminada..
.
A suposição da identidade pessoal radica, como a origem e a história do termo pessoa indicam – recorde-se a definição de Boécio: “Substância individual de natureza racional” - na suposição da identidade hipostática ou substancial , ou seja, na suposição de haver um suposto, algo que verdadeiramente sub-está ou sub-jaz (cf. o grego e o latino subiectum) “como substrato por si subsistente, suporte e base de sustentação dos atributos” , nos seres e nas coisas. No decurso dos debates teológicos trinitários, e enquanto distinta da essência (), pela sua individuação e existência independente, a hipóstase () torna-se equivalente a , persona, pessoa. Para que isso acontecesse, todavia, o termo grego teve de conhecer o processo de emancipação “do significado de simples papel, função, face, personagem de teatro” , que o seu equivalente latino, persona, já conhecera. Residindo aqui um aspecto fulcral da questão, que não podemos agora aprofundar, tudo parece depender da interpretação da etimologia e do sentido de e persona, máscara, na experiência teatral antiga. Designa, de acordo com o verbo personare, a qualidade positiva da máscara, quer na intensificação do som da voz que através dela ressoa, quer na representação e figuração de uma identidade mais digna que a do actor, a da sua personagem, muitas vezes divina , ou, pelo contrário, indica antes o carácter fictício e enganador da personagem, papel ou função representados, consoante o adjectivo personatus, a, um, que identifica o pessoado como um mascarado que se disfarça enganando, sendo a pessoa/máscara a figura que dissimula o rosto autêntico, ou que, fazendo-se passar por real, dissimula a dissimulação em que consiste ? Desenvolvendo esta hipótese, acrescentaríamos: dissimulando como ser o seu parecer, como númeno o seu fenómeno, como determinação ôntica e real a sua manifestação teatral e carnavalesca, lúdico/i-lusória ?
Compreender-se-ia, neste sentido, não só a dupla acepção do personne francês, que também significa “ninguém”, como toda uma galeria de sublimes “figuras da insignificância”, como diz Stanislas Breton, mas por isso mesmo da autenticidade, que preenchem o imaginário literário ocidental, nessa história paralela à da filosofia e da religião dominantes onde, a par da mais ousada mística, como que se arranca a máscara do personalismo metafísico e, gritando-se “O Rei vai nu!”, se denuncia a va(n)idade do seu aparente triunfo: desde o outis grego, “Ninguém”, auto-nomeação de Ulisses quando o cíclope Polifemo lhe pergunta o nome , a ecoar o ouden ou meden designativos do inefável “além do ser e da essência” na neo-platónica metafísica da a-determinação absoluta, abissal fundo de todos os possíveis, ao Nemo latino e aos Nobody e Niemand anglo-saxónicos e germânicos dos séculos XV e XVI , até à articulação “Todo o Mundo”-“Ninguém” em Gil Vicente , ao “Não sou ninguém” do parvo vicentino e aos seus sucessores em Teixeira de Pascoaes e Fernando Pessoa, como um impessoal fundo da ilimitada auto-figuração imaginativa das possibilidades de ser persona: “Posso imaginar-me tudo, porque não sou nada. Se fosse alguma coisa não poderia imaginar” .
É neste sentido que o Dharma do Buda, que só desde o século passado começa a ser rigorosamente estudado no Ocidente e a libertar-se das interpretações românticas, pessimistas e teosóficas do século XIX , assume uma notável contemporaneidade no que respeita à presente situação histórica da consciência ocidental, com ele convergente na medida em que procede à crítica, desconstrução e dessubstancialização da metafísica e do sujeito, abandona o “fundacionalismo filosófico” e assume o desafio de aprender “a viver num mundo sem fundações” . A par de outras inflexões de paradigma, como a busca de superação do teoantropocentrismo numa visão holística e cósmica, numa via mediana além do absolutismo dos fundamentos e do niilismo da sua mera negação sem alternativa, dir-se-ia que o Dharma do Buda se constitui hoje como referência incontornável na tentativa da consciência ocidental recordar isso que esqueceu ou negou nas origens da sua história diurna, que é simultaneamente a prospectiva de outras possibilidades de futuro, reconhecida a crise e esgotamento dos paradigmas e caminhos até hoje dominantes.
Mas percorramos alguns textos fundamentais da tradição do Buda, seleccionados dos seus três ciclos de Ensinamento e dos três Veículos aí expostos em função das qualidades e potencialidades dos seus destinatários, pequenas, médias e superiores: o Hinayana, ou Pequeno Veículo (hoje também designado como “veículo de base”), o Mahayana, ou Grande Veículo, e o Vajrayana, ou Veículo de Diamante. Neles destacaremos apenas as passagens que permitam elucidar mais directamente a questão da identidade pessoal.
No primeiro discurso proferido, quarenta e nove dias após a Iluminação, dito de Benares, em pali o Dhammacakkapavattanasutta, o Sutra da Roda da Lei, verdadeiro coração do Dharma, o Buda enuncia a primeira das quatro nobres verdades, sobre a omnipresença de dukkha na existência e experiência condicionada de todos os seres . Dukkha, inicial e habitualmente traduzido por “sofrimento” ou “dor”, é um termo que na verdade não tem equivalente nas línguas ocidentais, implicando noções mais vastas e profundas como as de insatisfação, mal-estar, frustração, imperfeição, impermanência, conflito, vazio e não substancialidade . Se dukkha está presente no nascimento, na doença, na velhice e na morte, no “estar unido ao de que não se gosta”, no “estar separado do que se gosta” e no “não ter o que se deseja”, tudo se resume em que “os cinco agregados de apego são dukkha” . Os cinco agregados, ou skandhas, em sânscrito , designam as energias psicofísicas em constante mudança e interdependência cuja associação provisória compõe aquilo que na experiência não iluminada, condicionada por estes mesmos agregados, surge como um “ser”, um “indivíduo” ou um “eu”. A sua aparente unidade simples é assim um composto de vários elementos que só existem na sua interacção e não de modo autónomo. Se os apresentamos aqui pela ordem tradicional, convém ter presente que a sua manifestação é simultânea e que a presença de um implica a de todos os outros: 1 - formas (rupa), físicas e mentais, exteriores e interiores, incluindo os seis objectos dos órgãos dos sentidos físicos e mental e estes mesmos órgãos; 2 - sensações (vedana) físicas e mentais dessas formas, agradáveis, desagradáveis ou neutras; 3 - percepções (sanna), que reconhecem, discernem e identificam os objectos da experiência física e mental; 4 - formações mentais, kármicas ou volicionais (samskara), que determinam a actividade positiva, negativa ou neutra da mente e elaboram assim a visão/experiência individual do mundo, sendo a cada instante o efeito das volições e acções passadas e a causa das presentes, cujo efeito é por sua vez causa das futuras; é por estas formações que desde sempre é construído, consciente ou inconscientemente, o modo agradável, desagradável ou neutro de manifestação dos objectos-formas na sensação, na percepção e na consciência; as referidas formações compreendem assim “todos os automatismos habituais de pensamento, sentimento, percepção e acção”; 5 - consciências, em número de seis, conforme os seis órgãos e objectos dos sentidos físicos e mental, unificadas na consciência (vijñana), instância não autónoma que apenas efectua a síntese da experiência dos demais agregados em termos da dualidade que a instaura como um sujeito conhecedor de um objecto . Aqui concorre e daqui decorre a ideia, adventícia e falsa, da existência de um “eu”, ou de uma entidade intrínseca, naquilo que não é senão a associação provisória, interdependente e em mutação constante de cinco forças e funções psicofísicas. Na verdade, a ideia de “eu” não é senão uma das cinquenta e duas formações mentais elaboradas pelo quarto agregado , efeito e causa da projecção da mente, da palavra e do corpo no domínio da causalidade kármica, ou seja, no domínio da acção dualista, condicionada por e condicionadora de experiências, externas e internas, de separação e relação entre sujeito e objecto .
É neste sentido que, regressando ao Sutra da Roda da Lei, “os cinco agregados de apego são dukkha” . Dukkha, em primeiro lugar, na acepção, mais profunda, de que são vazios de existência própria, de que são insubstanciais, não existindo em si e por si, como uma entidade sólida e permanente, mas antes como um fluxo contínuo e sempre diverso de experiências psicofísicas, sendo uma delas, que se torna habitual e predominante entre muitas possíveis, a de haver um seu sujeito, que fosse o seu suporte único e imutável ou que de algum modo lhes conferisse uma unidade permanente, sem que isso corresponda a mais do que a uma volição/noção inadequada à realidade, se bem que, segundo os contextos histórico-culturais, adequada ao mundo convencional da linguagem, das representações e das práticas humanas. Em segundo lugar, os cinco agregados são dukkha na medida em que, havendo “apego” a eles, ou seja, havendo adesão à ideia da sua existência em si e por si, o suposto sujeito que resulta dessa adesão, isto é, a experiência de haver sujeito que daí resulta, não pode ser senão uma experiência infeliz, com a insatisfação, o mal-estar, a frustração e o conflito inerentes a supor-se algo de permanente e idêntico, independente e substancial, onde não há senão impermanência e mutação, interdependência e vacuidade-insubstancialidade. Havendo adesão e apego à existência em si e por si das formas-objectos, das sensações, das percepções, das formações mentais e da consciência, a experiência psicosensorial do mundo, nas suas modalidades agradável, desagradável e neutra, tende a esquecer-se como algo que é construído na construção da própria ideia/experiência de haver sujeito e tende assim a solidificar-se, a reificar-se, como se fosse algo de objectivo, real e permanente. O positivo, o negativo e o neutro surgem como qualidades objectivamente inerentes aos objectos da percepção quando na verdade são a projecção da mente que, não o reconhecendo, deseja, rejeita ou deixa na penumbra da desatenção as suas próprias ilusões. Pelo apego aos cinco agregados e à ideia de constituírem um sujeito independente reforçam-se assim as três emoções de base da mente não iluminada – desejo possessivo, aversão e indiferença - que, como veremos, originam as acções e reacções estruturadoras de todos os estados condicionados e dolorosos do ciclo das existências ou samsara.
Se questionássemos, neste momento, quem se ilude e apega aos agregados e à ideia/experiência de haver um sujeito independente que seja o protagonista e proprietário da experiência de si e do mundo, a resposta do Buda, dos Budas, não dogmática mas movida pelo pragmatismo da compaixão, pois sempre em função das capacidades de entendimento de quem põe a pergunta e do que lhe for mais benéfico ouvir nesse preciso instante, pode ser vária, incluindo o silêncio radical . Pela nossa parte, diríamos que esta questão está condicionada pela mesma ilusão e apego ao pressuposto de haver um sujeito dos actos e das experiências, ou seja, neste caso, um sujeito do próprio apego à ideia de haver um sujeito, um sujeito da própria ilusão de haver sujeito. Ilusão inerente a esse senso comum arraigado no pensamento, sobretudo ocidental, enquanto crença e juízo ingénuos de que a existência de pensamento e actividade implica a de um pensador e agente, humano ou divino, ou de que ser seja ex-istir e ser sujeito. Ilusão que, pretendida verdade filosófica nas tão vulgares certezas de Santo Agostinho e Descartes, fundadas na suposta auto-evidência do cogito , persiste no transcendentalismo de Kant e Husserl, que não ousa estender a epoché ao próprio sujeito transcendental . Aqui, de facto, o pensamento budista pratica desde o início uma fenomenologia sem qualquer pressuposto transcendental. Como diz Buddhaghosa: “Só o sofrimento existe, mas não se encontra nenhum sofredor; / Os actos são, mas não se encontra actor” . Ou ainda o monge Walpola Rahula: “Não há motor imóvel por detrás do movimento. (...) Não há pensador por detrás do pensamento. O pensamento é ele próprio o pensador. Não podemos deixar aqui de notar como esta ideia budista se opõe diametralmente ao “cogito ergo sum” cartesiano: “Eu penso, logo existo”” .
Na verdade, regressando ao Sutra da Roda da Lei, a segunda Nobre Verdade indica que a causa dessa dukkha, agora apenas no seu aspecto de sofrimento, inerente aos “cinco agregados de apego”, é a “sede” (tanha, em pali, trshna, em sânscrito). “Sede” no sentido de um desejo ávido e insaciável que assume três aspectos: sede dos prazeres sensoriais; sede da existência e do devir; sede da não-existência ou auto-aniquilação . “Sede” que assim, em qualquer dos casos, supõe a ideia/experiência de haver sujeito, indissociável do desejo ávido da sua gratificação positiva, da sua persistência ou da sua gratificação negativa, na medida em que o desejo de não ser é ainda um desejo egocêntrico de não sofrer, que denuncia o apego à ideia de existência própria. Mas como surge essa ideia/experiência de haver sujeito, ou, afinal, o desejo de o haver ? Se no Sutra da Roda da Lei se põe a tónica nesta “sede” como causa de dukkha, outros textos onde se fixou o ensinamento do Buda, como aqueles relativos aos doze elos da produção condicionada, ou interdependente, atribuem a origem da existência condicionada à “ignorância” (avidya) . É pela “ignorância” que se produzem as “formações kármicas”, as tendências inconscientes ou semi-conscientes que dão forma à percepção global do mundo e impulsionam a agir de modo positivo, negativo ou neutro, e é por elas que se produz a “consciência” dualista, propulsionada de experiência em experiência e de existência em existência. A “consciência” condiciona o “nome e forma”, ou os cinco agregados, que condicionam as “fontes dos sentidos”, que condicionam o “contacto”, que condiciona a “sensação ou sentimento”, que condiciona a “sede ou desejo”, que condiciona a “preensão ou apego”, que condiciona o “devir ou existência”, que condiciona o “nascimento ou renascimento”, que condiciona a “velhice e morte”. Cessando a “ignorância” cessam as “formações kármicas”, cessando estas cessa a “consciência” dualista, e assim sucessivamente, até à cessação do nascimento”/”renascimento” e portanto da “velhice e morte” . Como se constata, a “consciência” dualista, imediata condicionante dos cinco agregados da suposta individualidade, é por sua vez condicionada por essas tendências obscuras, no limiar entre a inconsciência e a consciência, que são as “formações kármicas”, como estas o são pela “ignorância”. A ideia/experiência/desejo de existir tem assim uma proto-história que progressivamente se afunda no irracional e no desconhecido, primeiro na penumbra das pulsões e depois na treva da cegueira (cf. a sugestão etimológica de avidya, a não visão, termo sânscrito traduzido por “ignorância”).
Mas em que consiste esta “ignorância” ? É o momento de passarmos ao segundo ciclo do ensinamento do Buda, considerando alguns textos do Mahayana, onde se considera que o Dharma do Buda passa dos sentidos provisórios ou interpretáveis ao sentido definitivo , ou, de outro modo, da verdade relativa, condicionada pelos limites do intelecto conceptual, à verdade absoluta. No Sutra do Rebento de Arroz o Buda afirma: “Ó monges, todo aquele que vê a produção interdependente vê o Dharma. Todo aquele que vê o Dharma vê o Buda” . Tentemos pois, agora mais de perto, e olhando melhor, ver o Buda... Se a “produção interdependente” tem dois aspectos, relativos aos fenómenos exteriores e interiores, interessa-nos aqui fundamentalmente o segundo. Na medida em que depende de “causas”, a “produção interdependente” verifica-se pelo encadeamento constante dos doze elos enunciados, que, numa comparação, “desde tempos sem começo passam à imagem da corrente ininterrupta de um rio” , da “ignorância” até à “velhice e morte”. Na medida em que depende de “condições”, a “produção interdependente” verifica-se na combinação de seis elementos, a terra, a água, o fogo, o ar, o espaço e a consciência, composta das cinco consciências sensoriais e da consciência mental dualista, o que manifesta os cinco agregados da individualidade psicofísica . Ora a “ignorância “ no que respeita às “condições” determina a “ignorância” no que respeita às “causas”. Vejamos, mediante uma transcrição do texto em apreço: “O que é a ignorância ? É o que capta os seis elementos como uma coisa única, como uma globalidade, o que os concebe como eternos, consistentes, imutáveis, agradáveis, como um “si”, um ser dotado de espírito, um ser vivo, um indivíduo, um criador, um macho, uma pessoa, um descendente de Manu, um ser humano, um denominado “eu”, um suposto “meu”, em suma, toda uma diversidade de equívocos: eis o que se chama “ignorância”. Da presença de uma tal ignorância decorrem o desejo, a cólera e a indiferença em relação aos objectos. Esta atracção, esta aversão e esta indiferença aos objectos constituem o que se chama “formações kármicas condicionadas pela ignorância”. O que toma conhecimento dos diferentes aspectos das coisas existentes é a consciência” . Segue-se a já conhecida enumeração dos demais elos da produção interdependente. Mais adiante, o sutra define a “ignorância” como este “desconhecimento que, não compreendendo o real, o interpreta falsamente”. Dessa má interpretação decorrem as formações kármicas indutoras de acções meritórias, demeritórias ou não indutoras de qualquer movimento. Destas resultam, respectivamente, consciências tendentes ao meritório, ao demeritório ou à inércia .
Se os doze elos da produção interdependente se manifestam em conjunto, como o movimento constante das águas de um rio, há todavia um deles que, sendo implícito em todos os demais, como a instância da qual depende a contínua reiteração de todo o processo, uma vez anulado, pode esgotar o fluxo dessa corrente, ou seja, o fluxo de dukkha. É a “ignorância”, a qual em verdade não consiste em nada de real e positivo, antes num não reconhecimento das coisas como são, que leva a uma versão errónea das mesmas. Em que consiste essa versão falsa ? Exactamente em interpretar os componentes psicofísicos, múltiplos, impermanentes e interdependentes, jamais idênticos a si mesmos um único instante, tal o rio de Heraclito , como uma unicidade, um todo, uma entidade, um ser individual, espiritual e vivo, uma pessoa, um homem, um eu que se possui a si mesmo, eterno, consistente, permanente e desejável enquanto tal. Ou seja, exactamente isso que cada um de nós julga ser...
Se, no mesmo sutra, se diz que os doze elos da produção interdependente se podem resumir a “quatro causas de actividades”, a ignorância, a sede ou as paixões, o karma e a consciência, afirma-se, numa comparação, que “o karma e as paixões produzem a semente da consciência”, sendo ao mesmo tempo o karma um “húmus” para ela. Quanto à sede, “ela impregna a semente da consciência”, sendo a ignorância que a “semeia”. Sem estas “condições causais, a semente da consciência não se desenvolverá”, mas com elas entrará numa “matriz materna”, onde manifestará o “rebento do nome e da forma”, ou seja, a aparente individualidade psicofísica. Esta surge assim num processo que desde o início não é consciente, intencional e teleológico, onde as causas, as condições e o resultado não sabem nem pretendem sê-lo, como claramente afirma o texto. Por outro lado, não se pode dizer que a aparente individualidade se crie a si mesma, que seja a criação de outro, como “um Deus todo poderoso” ou a “natureza”, ou as duas coisas simultaneamente. Produto de causas e condições, desde a “ignorância” à união do pai e da mãe num período lunar favorável, a “semente da consciência” – “se bem que fundamentalmente sem proprietário, sem pertença, semelhante ao céu, totalmente fantasmagórica”, “inapreensível” e como uma “ilusão” – produz por sua vez a aparente individualidade dos agregados .
É neste sentido, entendendo-se o suposto indivíduo como algo que se manifesta mas que não existe realmente, que se pode compreender a sequência do sutra, radicalmente depuradora de muitas concepções equívocas dentro do próprio budismo. Não há assim, nas palavras do Buda, “nada que transmigre deste mundo para um outro mundo”, “ninguém que transmigre na morte e renasça algures”, embora, não faltando “nenhuma das causas e condições, os frutos do karma se manifestem claramente”, tão claramente como o “reflexo de um rosto num espelho” ou do disco lunar numa superfície aquática: embora nada se transfira para esses lugares, a aparência surge aí bem nítida .
Em que consiste, afinal, a “produção interdependente interior” ? Ela tem cinco aspectos: 1 - “não é eterna”, no sentido de possuir uma identidade própria e imutável, pois “os agregados do momento da morte” e os “que pertencem ao nascimento seguinte” não são os mesmos; 2 - “não é um nada”, no sentido de designar uma pura descontinuidade, sem qualquer relação entre os seus termos, porque não é por causa da cessação nem da não-cessação dos primeiros agregados que os segundos aparecem, nascendo os segundos no mesmo instante da morte dos primeiros, como um prato da balança “sobe quando o outro desce”; 3 - “não é transmigração duma essência” porque “seres animados de espécies diferentes manifestam renascimentos da mesma espécie” (e vice-versa, no plano da ilusão não reconhecida como tal); 4 - nela uma “pequena causa” (acção) pode originar “um grande efeito” kármico; 5 - há nela uma “continuidade no semelhante”, uma vez que os efeitos correspondem às causas. Conforme a seguir se explicita, a sua natureza é a de algo que, se bem que “incessante”, na verdade não corresponde a nada de absolutamente real. Ela é assim “inexistente, sem conteúdo nem substância; desprovida de essência; tal uma doença, um abcesso, um sofrimento, um vício; impermanente, dolorosa, vazia, desprovida de si”
.
Mas o mais importante são as consequências do seu efectivo reconhecimento como tal. Diz o Buda que quem assim verdadeiramente a vê, “tal qual”, “não se questiona mais a propósito do passado: “Eu era eu no passado ou eu não era eu ? Que era eu no passado ? Como era eu no passado ?”. Ele assim não pensa mais no que o precedeu. Do mesmo modo, não imagina o que se vai seguir questionando-se: “Eu serei eu no futuro ou eu não serei eu ? Que serei eu no futuro ? Como serei eu no futuro ?”. Quanto ao presente, ele já não reflecte nele pensando: “O que é isto ? Como é isto ? Existindo isto, o que se tornará aquilo ? De onde vêm estes seres animados ? Onde irão eles depois da sua morte ?” . Ou seja, como no início do sutra se anunciou, quem vê a produção interdependente vê o Dharma e quem vê o Dharma vê o Buda. Quem vê o Buda vê a vacuidade do questionador e logo a das atormentadoras e irrespondíveis questões que o supõem, aquelas mesmas que emergem na consciência humana e são o alento da própria busca filosófica e religiosa, decerto legítimas e úteis enquanto movidas pela busca da verdade, porém dissolvidas como ilusórias pela “sabedoria”, a suprema das virtudes, que assim traz ao espírito a paz profunda .
Daí a exortação final do sutra, a que se abandonem como erradas as diversas “opiniões” dos “ascetas e brâmanes deste mundo”, como as que afirmam “a existência do eu”, “a existência dos seres animados”, as que “afirmam a vida”, “a existência da pessoa ou ainda o carácter benéfico das cerimónias”. Cortadas “pela raiz”, não renascerá mais uma visão falsa das coisas, libertando-se doravante os “fenómenos” - exteriores e interiores, como aqueles interpretados como o “eu” e seus objectos, diríamos nós - dos conceitos de “nascimento” e de “cessação”, de algo que realmente surge e que realmente se extingue. Finalmente, o Iluminado, “o incomparável Instrutor dos deuses e dos homens”, profetiza que todo aquele que assim se equipe com “a paciência a respeito do real penetrará a fundo e verdadeiramente a produção interdependente” e “tornar-se-á um Buda autêntico e perfeito” . A paciência (kshanti), quarta virtude transcendente do Mahayana – aqui no sentido último em que consiste em não temer e suportar a verdade, não rejeitando o Dharma por mais que ele, por exemplo nos ensinamentos sobre a vacuidade, transcenda ou perturbe os nossos conceitos habituais - , abre-se para a sabedoria e esta para a Iluminação plena, ou seja, para o estado de Samyaksambuda.
Constatamos assim que a compreensão profunda da Segunda Nobre Verdade, sobre a origem de dukkha, conduz naturalmente à Terceira e Quarta Nobres Verdades, respectivamente referentes à “cessação” (nirodha) de dukkha e ao “caminho” (marga) que aí conduz . Isto porque compreender e experimentar verdadeiramente, não de forma meramente intelectual, que na origem de todo o sofrimento está um mal-entendido, residente em supor-se uma existência e id-entidade intrínsecas onde nada há que corresponda realmente a tais conceitos, implica desde logo a “cessação” das causas de dukkha - a “ignorância” e a “sede” ou “desejo ávido” egocentrado, o desejo de auto-gratificar-se na existência ou na aniquilação - , mediante a sabedoria que culmina o “óctuplo caminho” enunciado pelo Buda no Sutra da Roda da Lei. É assim que o nirvana (“extinção”), seja entendido como o equivalente de nirodha ou como o seu resultado, é definido de modo negativo, não como a extinção do quer que seja de real, que viesse anular, mas como a extinção da ilusão de haver algo que em verdade nunca existiu, não tendo alguma vez surgido e logo não podendo alguma vez extinguir-se.
Compreender profundamente a natureza enganadora da “ignorância” (avidya), reconhecendo a vacuidade do suposto de substancialidade no eu e nos fenómenos, é já um exercício de “sabedoria” (prajna) que, embora no seu aspecto negativo, tem por resultado a inibição das formações kármicas – desejo possessivo, aversão e indiferença – e a libertadora cessação de toda a produção condicionada e condicionadora da consciência dualista e da existência marcada por dukkha. No que respeita ao tema em apreço, o da identidade pessoal, reconhecer o modo como ela verdadeiramente aparece, enquanto suposto ou imputação conceptual sem qualquer raiz na impermanência e interdependência dos agregados psicofísicos, ou seja, reconhecer a sua vacuidade, é num sentido ver que não há dualidade entre a sua manifestação e a sua cessação e, num outro, mais fundo, é ir além destes mesmos conceitos. Como diz um dos bodhisattvas intervenientes no Sutra da Liberdade Inconcebível: “A pessoa e a cessação da pessoa constituem dualidade. Ora a pessoa é cessação da pessoa, pois aquele que vê a Aparência real da pessoa não crê na pessoa nem na sua cessação. A pessoa e a sua cessação não são duas realidades diferentes: permanecer neste estado sem apreensão nem terror é aceder ao Real na não-dualidade” .
É este um ponto de capital importância, para prevenir qualquer leitura niilista do Dharma do Buda, como as que muitas vezes precipitadamente se fazem, entendendo-o como uma prática de negação ou aniquilação do “eu”. Como escreve Walpola Rahula: “Não é absolutamente uma aniquilação do eu, porque em realidade não há eu a aniquilar. Se há uma aniquilação, é a da ilusão que dá a falsa ideia de um eu” .
Apontando a Via do Meio equidistante dos dois extremos, eternalismo/realismo e niilismo, adesão ao ser ou ao nada, crença numa entidade e substância intrínseca e permanente do eu e dos fenómenos ou postulado da sua aniquilação – mas note-se que se considera mais grave o erro niilista do que o eternalista, pelas suas habituais consequências éticas - , o Dharma do Buda distingue entre a “verdade relativa”, que descreve o modo como as coisas convencionalmente se manifestam, em função do intelecto conceptual e dualista, e a “verdade absoluta”, que designa o seu modo real, para além da dualidade e dos conceitos . Neste sentido, ensinamentos como o das Quatro Nobres Verdades, no Sutra da Roda da Lei, são considerados, ao nível do Mahayana, como tendo ainda um sentido provisório, referente à verdade relativa, devendo ser interpretados à luz da verdade absoluta e dos textos com um sentido definitivo, esses “textos abissais”, como o Sutra da Liberdade inconcebível, cuja simples escuta se diz purificar o espírito e o destemor perante eles revelar os “praticantes de longa data” . É o que acontece no Sutra do Coração do Conhecimento Transcendente, onde, ao nível da verdade absoluta, se explicita a vacuidade dos cinco agregados da suposta individualidade, já inerente ao primeiro sentido da sua identificação com dukkha, extraindo-se todas as suas consequências. Sendo indistintos a vacuidade e os fenómenos, estes “não nascem nem cessam”. Os cinco agregados e as seis formas e objectos das consciências não existem propriamente. Os doze elos da produção condicionada, desde a ignorância até à velhice e à morte, não existem nem cessam. O mesmo a respeito das quatro nobres verdades: não há dukkha, nem sua origem, nem sua cessação, nem via. Não há, assim, “sabedoria” nem qualquer “fruto a atingir ou a não atingir”, o que, num paradoxo apenas aparente, é na verdade o estabelecer-se dos bodhisattvas no “Conhecimento transcendente”. Sem véus mentais, sem medo do quer que seja, sem qualquer “distorsão”, acedem assim ao “nirvana” .
É no mesmo sentido que no Sutra do Diamante, instando os bodhisattvas a cultivarem um espírito que não se fixe, “coagule” ou “apoie” em nada , positivo ou negativo, em nenhum conceito, seu contrário ou sua ausência , como os de “fenómenos”, “eu”, “ser animado”, “vida” ou “indivíduo” , o Buda ensina que não há qualquer “entidade chamada “bodhisattva”” e, a seu próprio respeito, que não pensa haver atingido qualquer “fruto” da libertação , que “não há ninguém de real” a quem possa ser atribuída tal qualificação, que não possui “qualquer realidade de Buda completamente revelada na Iluminação”, que “não ensinou qualquer doutrina que seja” , nenhuma “realidade” e “nenhum Dharma” , e que, se bem que guie “inumeráveis seres” “além do sofrimento”, em verdade jamais algum “ser animado” se libertou ou foi libertado por si . Totalmente incondicionado e inconcebível, no sentido de ser inapreensível por qualquer conceito, “o Despertar insuperável, autêntico e perfeito é desprovido de eu, de qualidade de ser sensível, de vida, de individualidade” . É por isso, como se explicita, que ver os Budas é ver a “realidade absoluta”, enganando-se aqueles que julgam vê-los na sua forma física ou escutá-los no som da sua voz . Segundo a interpretação que o Buda faz da sua própria designação, “”Tathagata” significa “Que não vem de lugar algum e não vai a lugar algum”” . Convidando a ver “todos os fenómenos condicionados” como, entre outras imagens, “uma ilusão mágica”, “um sonho, um relâmpago ou uma nuvem” , o Buda mostra como o chamado “budismo” implica um desprendimento e uma transcendência de todas as discriminações conceptuais e reificadoras, incluindo as de “Buda”, “Dharma” e “verdade”. É neste sentido que compara “as numerosas realidades do Dharma” a uma “jangada”, convidando ao desapego da ideia da sua realidade ou irrealidade , e é neste sentido ainda que proclama que no “Dharma” “não se encontra mais verdade do que mentira” . Sendo o Dharma útil e eficaz para atravessar o oceano do samsara em direcção à outra margem do nirvana, à Iluminação – mas apenas enquanto se está no samsara de pensar que há alguém a iluminar, que há samsara e nirvana, com seus respectivos sujeitos, os seres sensíveis e os Budas, enquanto entidades realmente existentes, em si e por si, que não sejam ainda fenómenos condicionados por avidya, a ignorância - , tudo se altera com o reconhecimento da vacuidade de tudo isso. A Iluminação, ver o que antes se não via, ou o Despertar, o acordar de um sonho por se o reconhecer como tal, é assim um estado aquém-além da subjectividade e da sua negação, de posições e negações, de teorias, de filosofias. Nele não há nem não há identidade pessoal. E, mais do que isso, a questão pura e simplesmente não se coloca , por mais estranho que isso possa parecer. Mas não será tão estranho se podermos ficar um instante que seja com a mente calma e luminosa, tão vazia, livre e infinita como o espaço...
Todavia, não chegámos ainda à última palavra do Dharma do Buda. Se até aqui seguimos um caminho desconstrutivo, conforme a dialéctica desenvolvida na escola Madhyamika, uma das duas grandes escolas do Mahayana, por Nagarjuna – autor incontornável, cujo pensamento não podemos aqui expor - , convém abordar a questão segundo o espírito do Vajrayana, ou do terceiro e final ciclo de ensinamento do Buda. Com efeito, se ao nível do primeiro ciclo de ensinamento do Buda Shakyamuni se indica a identidade do “Incondicionado” (“Asamkhata”, em pali) com o nirvana, designando-os de uma forma puramente negativa, como “a extinção do desejo”, do “ódio” e da “ilusão” , já no Vajrayana se desenvolve a experiência das qualidades dessa natureza primordial e profunda, ou Natureza de Buda, presente em todos os seres, além dos limites da consciência obscurecida pelos conceitos e pelas emoções. É aquilo que se designa rigpa, no Ati-Yoga ou Dzogchen, a Grande Perfeição, o derradeiro dos veículos tântricos na escola Nyingmapa, que visa a experiência directa e imediata da natureza fundamentalmente livre e iluminada de todos os estados de consciência. Sendo a Natureza de Buda idêntica à natureza da mente, e se bem que esta transcenda conceitos e palavras, podemos considerá-la segundo três aspectos, absolutamente indissociáveis e simultâneos, que aqui apresentamos segundo o ensinamento de Kalu Rinpoche: 1 - vacuidade, enquanto algo que não é uma entidade, com características conceptualizáveis, sendo inobjectivável e assim livre, indestrutível, omnipresente e omnipenetrante como o espaço; 2 – luminosidade-lucidez, pela qual não é inerte mas antes dotada da capacidade de experimentar e conhecer claramente, sem qualquer dualidade; 3 - inteligência ilimitada ou infinitude, designando a infinita possibilidade de conhecimento e experiência, sem qualquer limite ou obstáculo; aqui se inclui também uma dimensão afectiva e sensível, ou seja, as espontâneas e infinitas manifestações da compaixão para libertar os seres iludidos no samsara. Sendo esta natureza da mente sempre a mesma, e a mesma “em todos os seres, humanos ou não humanos”, Budas e seres comuns distinguem-se apenas pelo reconhecimento ou não destas suas qualidades fundamentais, as quais, não sendo reconhecidas, geram as formas habituais de consciência, tidas por normais mas ilusórias . Sendo a mente uma intemporal e omni-abrangente auto-consciência, idêntica ao Buda primordial, Samantabhadra, há nela todavia, numa perspectiva, como uma das suas possibilidades infinitas de experiência, a virtualidade de se não reconhecer, de se obscurecer, de se desconhecer e de assim velar essa sua natureza primordial, sempre presente e jamais maculada. É o véu da “ignorância fundamental”, que se desenvolve no “véu da propensão fundamental” para a dualidade sujeito-objecto, aquilo que se designa já como “ignorância determinada”. Ignorando o “espaço” infinito da “vacuidade”, a mente substitui à experiência primordial da consciência, “sem centro nem periferia”, a de “um ponto de referência central a partir do qual tudo é percepcionado” e que se apropria de todas as experiências como as suas experiências. Nasce assim a ilusão de haver um “observador, o ego-sujeito”, a ilusão da identidade subjectiva. Simultaneamente, não reconhecendo a natureza auto-consciente da sua “luminosidade-lucidez”, a sua experiência converte-se na de “alguma coisa de outro”. Nasce assim a ilusão de haver objectos distintos, a ilusão da alteridade objectiva, que assume duas formas, a dos fenómenos ditos externos e a dos fenómenos ditos internos. Segue-se o “véu das paixões”, que resulta da concomitante ignorância do terceiro aspecto da mente no seu estado primordial, a “inteligência ilimitada”, que se converte na experiência de todas as formas de ilusória relação que se podem verificar entre sujeito e objecto, do que resulta, ao nível do sujeito, a atracção pelo que parece agradável, a repulsão pelo que parece desagradável, a indiferença pelo que parece neutro. Na verdade, uma absurda atracção, repulsa e indiferença da mente em relação a si mesma. Daí resulta o derradeiro véu, o do “karma”, ou da “actividade condicionada”, na medida em que aquelas três emoções se combinam na origem das seis – desejo possessivo, ódio/cólera, ignorância ou torpor mental, orgulho, avidez/avareza e inveja/ciúme – que promovem os múltiplos e ilusórios actos dualistas que fazem com que a consciência primordial não menos ilusoriamente construa a experiência dos seus efeitos, renascendo sob formas aparente e provisoriamente individuais nos seis mundos do samsara . Os quais, embora insatisfatória e dolorosamente experimentados como tais, não são substancialmente reais, mas apenas estados de alucinação perceptiva, projectados como ilusões mágicas pela força kármica do predomínio de uma daquelas emoções: do desejo possessivo resulta o mundo humano, do ódio/cólera o dos infernos, da ignorância ou torpor mental o dos animais, do orgulho o dos deuses, da avidez/avareza o dos espíritos ávidos e da inveja/ciúme o dos titãs ou semi-deuses. A mitologia de cada um destes mundos é na verdade uma psicologia simbólica das nossas profundezas pulsionais .
Todavia, recordando o que dissemos, estas pulsões não são outra coisa senão a nossa natureza e energia primordiais manifestando-se distorcidas pela ilusória dualidade. É como se, numa imagem, nós fôssemos realmente vidya, a “inteligência primordial”, um espaço insubstancial, luminoso e infinitamente aberto, sem qualquer referência, e depois, subitamente, surgisse a “consciência de si”, a consciência de que “eu” estou perante esse espaço, de que há “o espaço e eu”, o que o objectiva e solidifica no mesmo lance pelo qual me objectivo e solidifico. O espaço primordial de vidya não desapareceu, apenas o deixámos de reconhecer como tal, percepcionando-o agora, e a nós mesmos, como duas entidades distintas. Havendo construído tal percepção dualista ignoramo-lo e, para nos confirmarmos e assegurarmos naquilo que doravante nos cremos, e pela força do hábito, supomos que a realidade sempre foi como a passamos a percepcionar. É nisto que consiste avidya, a ignorância, a qual é, num sentido, deliberada , pois implica sempre, nas profundezas da consciência, simultaneamente a experiência do espaço luminoso primordial e, como indica um dos sentidos do verbo ignorar, por exemplo em português e inglês, não só o mero desconhecer mas o não fazer caso, o desconsiderar, o desprezar, isso mesmo que se conhece e reconhece, fazendo de conta que assim não é... Não podemos ir aqui mais longe, mas esta linha de interpretação implica nesta ignorância um sentido de hipocrisia e dissimulação da consciência que pode trazer nova luz a esta questão.
É ainda neste sentido que o budismo tibetano, fundamentalmente do Vajrayana, designa, como vimos, o Buda como Sangyé, indicando um estado de plena purificação e manifestação ou desenvolvimento. Purificação no sentido de remoção de todos os véus ou obscurecimentos atrás referidos – e que agora podemos ver como tendo a sua raiz numa certa e absurda recusa do estado livre e iluminado que não se pode deixar de ser - que é, implicitamente, a manifestação ou o des-envolvimento plenos daquilo que sempre há no mais íntimo de cada ser : a vacuidade, luminosidade e inteligência/compaixão infinita, aquilo que, num texto do Dzogchen, corresponde respectivamente aos três níveis da realidade, Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya , ou seja, à própria natureza do Buda primordial, e, no seu sentido mais profundo, às Três Jóias de todo o budismo: Buda, Dharma e Sangha.
Não gostaríamos de terminar esta porventura penosa luta contra os nossos hábitos e medos ancestrais sem uma sugestão, para quem no mínimo possa ter a curiosidade de fazer a experiência, de um modo prático e simples de reconhecer e redescobrir essa nossa natureza iluminada. A hipótese, a verificar por si mesmo, como tudo no Dharma do Buda, é que ela está sempre presente no âmago de todas as nossas experiências e percepções dualistas, conceptuais e emocionais, e em particular nas seis emoções samsáricas atrás enumeradas. Se formos então capazes de, no instante mesmo em que surgem, lhes prestar uma plena atenção, consciencializando-as apenas, sem qualquer dualidade, sem indiferença, apego ou aversão, sem as rejeitarmos e com elas entrar em conflito, mas também sem nos deixarmos arrastar e distrair por elas, poderemos por ventura constatar que as emoções auto-libertar-se-ão na experiência de um particular aspecto da primordial sabedoria não-dual . O veneno ter-se-á transformado em antídoto pela virtude da alquimia natural do não re-agir. E, sem ser necessário retirar-se do mundo, toda a situação e experiência da vida quotidiana será uma oportunidade única para vermos quem realmente somos. Este espaço livre e absoluto onde nunca houve ideia de eu ou de não-eu. Mesmo que nele continuemos a fazer de conta: que não o vemos, que não o somos, que a Liberdade e a Luz não são o nosso Bem mais íntimo e inalienável...
Notas de rodapé:
Cf. Kalou Rinpoché, La voie du Bouddha selon la tradition tibétaine, prefácio de Sua Santidade o Dalai Lama, uma antologia de ensinamentos realizada sob a direcção do Lama Denis Teundroup, Éditions du Seuil, 1993, pp.37-38.
Cf. Philippe Cornu, “Bouddha”, Dictionnaire Encyclopédique du Bouddhisme, Paris, Éditions du Seuil, 2001, pp.87-93, pp.87-88.
Cf. Philippe Cornu, «Vacuité», Ibid., pp.645-646.
É num sentido afim, embora não coincidente, que em Mestre Eckhart se reconhece que a auto-posição do “eu” na existência é “causa” de que “Deus seja “Deus””, ou seja, de que a Gottheit, a Divindade, enquanto abismo primordial e indiferenciado, se manifeste como Gott, como um Deus com o atributo de o ser, como uma determinação, pela e para a consciência e o homem – cf. Mestre Eckhart, Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum, in Sermons, II, apresentação e tradução de Jeanne Ancelet-Hustache, Paris, Éditions du Seuil, 1978, p.149. Cf. também p.146. Sobre a questão, cf. Paulo A. E. Borges, “Ser ateu graças a Deus ou de como ser pobre é não haver menos que o Infinito. A-teísmo, a-teologia e an-arquia mística no sermão “Beati pauperes spiritu...”, de Mestre Eckhart”, in Signum, Revista da ABREM – Associação Brasileira de Estudos Medievais, nº4 (São Paulo, 2002), pp.49-69.
Eckhart indica a possibilidade de uma experiência não teísta de Deus. Como diz o Lama Denis Teundroup: «En ce qui concerne Dieu (...), au niveau de cette connaissance non-dualiste, le «moi» et l’ «autre» se révèlent être des illusions ; dans celle-ci «moi» n’existant pas, «Dieu», l’Autre, n’existe pas non plus ! Néanmoins, cette double inexistance du sujet et de son objet, qu’on appelle la non-dualité, pourrait, par une logique paradoxale, être dite «l’ultime existence de Dieu». Mais un théiste ne serait sans doute pas d’accord ?» - Le Dharma et la Vie (entretiens avec Philippe Kerforne), Paris, Albin Michel, 1993, pp.50-51.
Boécio, De duabus naturis et una persona Christi, cap.3; PL 64, 1345.
Cf. os extensos artigos de Joaquim Teixeira, “Hipóstase” e “Pessoa”, in Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, 2, Lisboa/S.Paulo, Verbo, 1990, cols. 1138-1145 e Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, 4, Lisboa/S.Paulo, Verbo, 1992, cols. 95-120.
Cf. Joaquim Teixeira, “Hipóstase”, in Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, 2, col. 1139.
Cf. Id., Ibid., col. 1141.
Cf. Id., “Pessoa”, in Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, 4, col. 97.
Cf. Homero, Odisseia, IX.
Cf. Stanislas Breton, Rien ou Quelque Chose. Roman de métaphysique, Flammarion, 1987, pp.14-19. Cf. o “inefável” ou “nada absoluto segundo o melhor” de Damáscio - Traité des premiers Principes. I. De l’Ineffable et de l’Un, texto estabelecido por Leendert Gerrit Westerink e traduzido por Joseph Combès, Paris, Belles Lettres, 1986, pp.4-22. Cf. também Enrico Castelli-Gattinara, “Quelques considérations sur le Niemand et ... Personne”, in AA.VV., Folie et Déraison à la Renaissance, Bruxelas, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1976, pp.109-118.
Cf. Copilaçam de todalas obras de Gil Vicente, II, A Farsa da Lusitânia, introdução e normalização do texto de Maria Leonor Carvalhão Buescu, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983, pp.572-574.
Cf. Copilaçam de todalas obras de Gil Vicente, I, Auto da Barca do Inferno, introdução e normalização do texto de Maria Leonor Carvalhão Buescu, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983, p.211. Claro que o “Não sou ninguém” também pode ser lido no sentido oposto, como afirmação de se ser alguém... Mas também é defensável a ideia de que só quem não presume ter identidade pessoal é alguém de valioso, de são, ou digno de salvação, à luz da sapiência e moral evangélica do perder-se como salvar-se...
Veja-se, entre múltiplos exemplos de uma menos conhecida visão em que a identidade do sujeito simultaneamente se multiplica e desvanece: “Somos uma turba e ninguém” – Teixeira de Pascoaes, O Pobre Tolo (versão inédita), Obras Completas, introdução e aparato crítico por Jacinto do Prado Coelho, IX, Amadora, Livraria Bertrand, s.d., p.215.
Cf. Bernardo Soares, Livro do Desassossego, in Fernando Pessoa, Obras, II, organização, introdução e notas de António Quadros, Porto, Lello & Irmão - Editores, 1986, p.570. Cf. Paulo A. E. Borges, “”Posso imaginar-me tudo porque não sou nada. Se fosse alguma coisa não poderia imaginar”. Vacuidade e autocriação do sujeito em Fernando Pessoa”, in Pensamento Atlântico. Estudos e Ensaios de Pensamento Luso-Brasileiro, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2002, pp.319-332.
Cf. Roger-Pol Droit, Le Culte du Néant. Les philosophes et le Bouddha, Paris, Éditions du Seuil, 1997; Frédéric Lenoir, La rencontre du bouddhisme et de l’Occident, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1999, pp.81-209.
Francisco Varela, Evan Thompson e Eleanor Rosch, A Mente Corpórea, Ciência Cognitiva e Experiência Humana, tradução de Joaquim Nogueira Gil e Jorge de Sousa, Lisboa, Instituto Piaget, 2001, p.282.
Cf. Dhammacakkapavattanasutta, Samyutta-nikaya, Sacca-samyutta, II, I, in Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens. Étude suivie d’un choix de textes, Éditions du Seuil, 1978, pp.122-124, p.123. Cf. Carlos João Correia, “O Sermão de Benares”, Communio, nº3, Ano XVII (Lisboa, Maio-Junho de 2000), pp.266-276.
Cf. Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens. Étude suivie d’un choix de textes, pp.36-37.
Cf. Dhammacakkapavattanasutta, Samyutta-nikaya, Sacca-samyutta, II, I, in Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens. Étude suivie d’un choix de textes, pp.122-124, p.123.
Salvo indicação em contrário, transcreveremos os principais termos budistas na fonética do sânscrito, língua na qual são mais conhecidos
.
Cf. Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens. Étude suivie d’un choix de textes, pp.40-45; Philippe Cornu, “agrégats (cinq)”, Dictionnaire Encyclopédique du Bouddhisme, p.36.
Cf. Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens. Étude suivie d’un choix de textes, pp.45-46.
Cf. Paulo A. E. Borges, “Mente, Ética e Natureza no Budismo. A constituição kármica da experiência do mundo”, in AAVV., Ética Ambiental. Uma Ética para o futuro, organização e coordenação de Cristina Beckert, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2003, pp.149-163.
Cf. Dhammacakkapavattanasutta, Samyutta-nikaya, Sacca-samyutta, II, I, in Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens. Étude suivie d’un choix de textes, pp.122-124, p.123.
É o caso do silêncio em que o Buda se manteve perante as questões de Vacchagotta, que lhe perguntou primeiro se há um “Atman” e, depois, se não há um “Atman”. Depois de o seu interlocutor partir, o Buda explicou a Ananda que, além de outras razões, o seu silêncio visou evitar que assumisse quer uma posição e teoria eternalista, quer uma posição e teoria niilista. Na verdade, como explicou noutra ocasião ao mesmo Vacchagotta, o Buda “não tinha teoria porque tinha visto a natureza das coisas” - Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens. Étude suivie d’un choix de textes, pp.88-89.
Cf. Santo Agostinho, De libero arbitrio, II, III, 7; De civitate Dei, XI, 26; De Trinitate, X, 10, 14; Descartes, Discours de la Méthode, VI, 32; Principia philosophiae, VII, 17; Meditationes de prima philosophia, II, 3.
Já o mesmo não acontece, note-se, em algum pensamento português, onde a dúvida do sujeito a respeito da sua própria existência é um tema prefigurado em Antero, implícito em José Marinho e explícito em Teixeira de Pascoaes, Fernando Pessoa e Agostinho da Silva. Veja-se, por exemplo, quando este escreve, numa das suas quadras filosóficas: “Primeiro há um pensamento / que pensa sem pensador / e logo pensa quem pensa / que pensa tudo ao redor” - Agostinho da Silva, Quadras Inéditas, s.l., Ulmeiro, 1990, p.102.
Buddhaghosa, Visuddhimagga, Londres, Pali Text Society, p.513.
Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens, pp.46-47.
Cf. Dhammacakkapavattanasutta, Samyutta-nikaya, Sacca-samyutta, II, I, cit. in Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens. Étude suivie d’un choix de textes, pp.122-124, p.123.
Cf., por exemplo, Vinayapitaka e Majjhima-nikaya. Cf. André Bareau, O Buda. Vida e Ensinamentos, tradução de Maria Bragança, posfácio de Vítor Pomar, Lisboa, Editorial Presença, 2000, pp.62-70.
Cf. Philippe Cornu, “interdépendance (origines interdépendantes, production conditionnée)”, Dictionnaire Encyclopédique du Bouddhisme, pp.258-261.
Sobre a distinção entre ensinamentos definitivos e interpretáveis cf., por exemplo, Dalai Lama, Estágios da Meditação, tradução de Paulo Borges, revisão de Conceição Gomes, Lisboa, Âncora Editora, 2001, pp.90-92.
“Soûtra de la Pousse de riz”, traduzido do tibetano por Philippe Cornu, in Soûtra du Diamant et autres soûtras de la Voie médiane, traduções do tibetano por Philippe Cornu, do chinês e do sânscrito por Patrick Carré, Fayard, 2001, p. 98.
Ibid., p.111.
Ibid., pp.105-106.
Ibid., pp.107-108.
Se há temas que permitem ir ao cerne das questões, pelo próprio contraste entre os termos que equacionam, este é um deles: Budismo e identidade pessoal. Não tanto, todavia, porque o chamado budismo se constitua pela negação ou pela aspiração à anulação da chamada “identidade pessoal”, conforme vulgarmente se pensa. Na verdade, se quisermos ser rigorosos, de um rigor que não se acomode a séculos de interpretação do budismo segundo perspectivas cultural e psicologicamente redutoras, como os conceitos e valores da consciência ocidental de matriz helénica e judaico-cristã, ou os medos e expectativas do sujeito egocêntrico, é bem diferente o que encontramos na visão experiencial e no ensinamento do Buda, ou no Dharma do Buda, expressão que preferimos à de budismo, de origem ocidental e muitas vezes ainda hoje estranha aos seus praticantes orientais, que em seu lugar utilizam tradicionalmente uma expressão que podemos traduzir como “ciência interior” ou “ciência do espírito” .
Com efeito, de acordo com o próprio sentido da palavra Buda, que designa o estado Desperto ou Iluminado, o estado de reconhecimento da natureza última dos fenómenos e da mente, pela eliminação de todos os obscurecimentos emocionais e conceptuais permitindo o natural des-envolvimento de todas as qualidades cognitivas e afectivas - conforme a etimologia da palavra tibetana para Buda, San-gye - , o que o chamado budismo visa é um estado incondicionado por qualquer modo de ilusória dualidade cognitiva e afectiva, em termos de separação e relação entre sujeito e objecto, ou seja, a experiência disso que, na perspectiva ainda da mente condicionada, se designa como Iluminação e Libertação perfeita. A Natureza de Buda, natureza última e comum de todos os fenómenos e da mente, é assim absolutamente livre de todas as delimitações e antinomias conceptuais e verbais, metafísicas e onto-lógicas. Neste sentido, ela é alheia a todos os conceitos estruturadores do pensamento discursivo, nomeadamente os de ser e não ser, mesmo e outro, identidade e alteridade. Mas, contrariamente ao Princípio primeiro das metafísicas místicas orientais e ocidentais, como o Brahman hindu, o Uno/Bem de Plotino, o Inefável de Damáscio ou, de um modo geral, o Deus transcendente da revelação judaica e cristã ou das derivadas metafísicas de matriz neo-platónica, que tende a ser considerado como um Absoluto separado da experiência da mente e do mundo, algo que é em si e por si embora para além do próprio ser e de todas as determinações antinómicas do intelecto, a Natureza de Buda, na relatividade da sua expressão, é vacuidade (sânscrito: sunyata), no sentido, muito preciso, da ausência de essência, existência ou entidade intrínseca, em si e por si, ou seja, de substancialidade, não só de todas as coisas, fenómenos e sua correlata consciência, mas da própria vacuidade, a qual, ela mesma, é vazia ou desprovida de existência própria, não sendo nem não sendo, mera designação da verdadeira natureza de cada uma e de todas as coisas na sua universal aparição em interdependência . Alheia aos extremos conceptuais do ser e do não ser, da existência e da não existência, a Natureza de Buda, no seu aspecto de vacuidade, não é uma entidade metafísica positiva, negativa ou inefável, mas a verdade das coisas-fenómenos materiais e mentais, o seu tal qual ou talidade (sânscrito: tathata), inerente à sua manifestação interdependente, sem qualquer constituição ontológica autárquica, autónoma e própria. Neste sentido, a Natureza de Buda-vacuidade é a verdade absoluta e última do mundo, da totalidade da manifestação, inseparável de cada uma e de todas as coisas. Como se diz na versão tibetana do Sutra do Coração do Conhecimento Transcendente: “As formas são vazias; a própria vacuidade são as formas; a vacuidade não é diferente das formas; as formas não são diferentes da vacuidade” .
Deste modo, por uma busca com recurso à experiência sensível, à análise racional, ao recolhimento meditativo e à intuição sapiencial, livres de todos os pressupostos conceptuais, como os do substancialismo ingénuo, idealista ou realista, que reifica e ontifica à priori os termos da relação cognitiva, sujeito e objecto, o chamado budismo procede de uma experiência directa e não conceptual do real como algo de igualmente irredutível ao princípio de identidade e à sua negação, que seriam assim estranhos à natureza autêntica das coisas, por mais estranho que isso possa parecer a milenares e dominantes hábitos mentais. E, se bem que o âmago da experiência dos Budas seja a Iluminação, a visão das coisas tais como são, sem as ilusórias características, discriminações e limites da mente conceptual, natural é que, para que essa Iluminação naturalmente aconteça, ou melhor, se re-conheça, o ensinamento ou palavra dos Budas, o Dharma, vise eliminar pela raiz os obstáculos a tal reconhecimento, ou seja, os obscurecimentos conceptuais e emocionais que velam a natureza última da mente e dos fenómenos. Ora a raiz destes é exactamente a crença irracional e irreflectida, tornada um hábito mental e emocional inveterado, na substancialidade do eu e dos fenómenos, na sua essência, existência e distinção em si e por si, na sua consistência e subsistência intrínseca, separada da totalidade interdependente e dinâmica da manifestação. Por mais subtis que possam ser as formas que essa crença assume, nomeadamente as que integram a relação e a alteridade como constitutivas dessa substancialidade, ela persiste como o inquestionado e sacrossanto pressuposto teórico e prático não só do senso comum, como da maior parte das doutrinas científicas, filosóficas e religiosas que postulam a existência de um fundamento primeiro da constituição do mundo, ideal, real, espiritual, material ou transcendente unificador de todos os contrários. De óbvias origens religiosas e metafísicas, não é de desprezar a sua radicação psicofisiológica. Dir-se-ia que a obscura experiência psicofisiológica da existência independente do sujeito e dos objectos percepcionados, como unidades substanciais e simples, se projecta, reforça e cristaliza na milenar ideia metafísica e religiosa de um princípio primeiro e último, uno, único e absoluto, de uma causa incausada e transcendente de onde tudo procede, de um fundamento originário do ser e do pensar, consoante as conhecidas tendências teístas, monistas e monoteístas da experiência humana que pontuam de Oriente a Ocidente. Se tenho uma experiência do corpo e da mente como algo de meu, de próprio, como um mesmo ou algo que pertence a um mesmo por oposição e em relação a um outro, como uma entidade separada e autónoma, natural é que projecte essa experiência na análoga representação de um ser a partir do qual tudo procede, eu e todas as coisas , garantindo, por vezes apenas a mim e aos da minha espécie, num antropocentrismo grosseiro, a protecção neste mundo e a vida eterna no outro. A questão é que o facto de tal experiência da individualidade psicofisiológica se ter tornado habitual e quase única no presente ciclo histórico-cultural da humanidade ocidental e ocidentalizada não implica que ela seja necessária, normal, natural e verdadeira, parecendo-nos óbvio que não é jamais uma experiência feliz, como o prova o facto de os momentos mais gratificantes da nossa vida, e que nos deixam mais saudosos de uma plenitude entrevista, serem aqueles em que, por virtude de um grande amor e uma grande entrega, ou por via de uma absorção estética ou contemplativa, nos esquecemos do que julgamos ser e descobrimos uma dimensão mais ampla e iluminada..
.
A suposição da identidade pessoal radica, como a origem e a história do termo pessoa indicam – recorde-se a definição de Boécio: “Substância individual de natureza racional” - na suposição da identidade hipostática ou substancial , ou seja, na suposição de haver um suposto, algo que verdadeiramente sub-está ou sub-jaz (cf. o grego e o latino subiectum) “como substrato por si subsistente, suporte e base de sustentação dos atributos” , nos seres e nas coisas. No decurso dos debates teológicos trinitários, e enquanto distinta da essência (), pela sua individuação e existência independente, a hipóstase () torna-se equivalente a , persona, pessoa. Para que isso acontecesse, todavia, o termo grego teve de conhecer o processo de emancipação “do significado de simples papel, função, face, personagem de teatro” , que o seu equivalente latino, persona, já conhecera. Residindo aqui um aspecto fulcral da questão, que não podemos agora aprofundar, tudo parece depender da interpretação da etimologia e do sentido de e persona, máscara, na experiência teatral antiga. Designa, de acordo com o verbo personare, a qualidade positiva da máscara, quer na intensificação do som da voz que através dela ressoa, quer na representação e figuração de uma identidade mais digna que a do actor, a da sua personagem, muitas vezes divina , ou, pelo contrário, indica antes o carácter fictício e enganador da personagem, papel ou função representados, consoante o adjectivo personatus, a, um, que identifica o pessoado como um mascarado que se disfarça enganando, sendo a pessoa/máscara a figura que dissimula o rosto autêntico, ou que, fazendo-se passar por real, dissimula a dissimulação em que consiste ? Desenvolvendo esta hipótese, acrescentaríamos: dissimulando como ser o seu parecer, como númeno o seu fenómeno, como determinação ôntica e real a sua manifestação teatral e carnavalesca, lúdico/i-lusória ?
Compreender-se-ia, neste sentido, não só a dupla acepção do personne francês, que também significa “ninguém”, como toda uma galeria de sublimes “figuras da insignificância”, como diz Stanislas Breton, mas por isso mesmo da autenticidade, que preenchem o imaginário literário ocidental, nessa história paralela à da filosofia e da religião dominantes onde, a par da mais ousada mística, como que se arranca a máscara do personalismo metafísico e, gritando-se “O Rei vai nu!”, se denuncia a va(n)idade do seu aparente triunfo: desde o outis grego, “Ninguém”, auto-nomeação de Ulisses quando o cíclope Polifemo lhe pergunta o nome , a ecoar o ouden ou meden designativos do inefável “além do ser e da essência” na neo-platónica metafísica da a-determinação absoluta, abissal fundo de todos os possíveis, ao Nemo latino e aos Nobody e Niemand anglo-saxónicos e germânicos dos séculos XV e XVI , até à articulação “Todo o Mundo”-“Ninguém” em Gil Vicente , ao “Não sou ninguém” do parvo vicentino e aos seus sucessores em Teixeira de Pascoaes e Fernando Pessoa, como um impessoal fundo da ilimitada auto-figuração imaginativa das possibilidades de ser persona: “Posso imaginar-me tudo, porque não sou nada. Se fosse alguma coisa não poderia imaginar” .
É neste sentido que o Dharma do Buda, que só desde o século passado começa a ser rigorosamente estudado no Ocidente e a libertar-se das interpretações românticas, pessimistas e teosóficas do século XIX , assume uma notável contemporaneidade no que respeita à presente situação histórica da consciência ocidental, com ele convergente na medida em que procede à crítica, desconstrução e dessubstancialização da metafísica e do sujeito, abandona o “fundacionalismo filosófico” e assume o desafio de aprender “a viver num mundo sem fundações” . A par de outras inflexões de paradigma, como a busca de superação do teoantropocentrismo numa visão holística e cósmica, numa via mediana além do absolutismo dos fundamentos e do niilismo da sua mera negação sem alternativa, dir-se-ia que o Dharma do Buda se constitui hoje como referência incontornável na tentativa da consciência ocidental recordar isso que esqueceu ou negou nas origens da sua história diurna, que é simultaneamente a prospectiva de outras possibilidades de futuro, reconhecida a crise e esgotamento dos paradigmas e caminhos até hoje dominantes.
Mas percorramos alguns textos fundamentais da tradição do Buda, seleccionados dos seus três ciclos de Ensinamento e dos três Veículos aí expostos em função das qualidades e potencialidades dos seus destinatários, pequenas, médias e superiores: o Hinayana, ou Pequeno Veículo (hoje também designado como “veículo de base”), o Mahayana, ou Grande Veículo, e o Vajrayana, ou Veículo de Diamante. Neles destacaremos apenas as passagens que permitam elucidar mais directamente a questão da identidade pessoal.
No primeiro discurso proferido, quarenta e nove dias após a Iluminação, dito de Benares, em pali o Dhammacakkapavattanasutta, o Sutra da Roda da Lei, verdadeiro coração do Dharma, o Buda enuncia a primeira das quatro nobres verdades, sobre a omnipresença de dukkha na existência e experiência condicionada de todos os seres . Dukkha, inicial e habitualmente traduzido por “sofrimento” ou “dor”, é um termo que na verdade não tem equivalente nas línguas ocidentais, implicando noções mais vastas e profundas como as de insatisfação, mal-estar, frustração, imperfeição, impermanência, conflito, vazio e não substancialidade . Se dukkha está presente no nascimento, na doença, na velhice e na morte, no “estar unido ao de que não se gosta”, no “estar separado do que se gosta” e no “não ter o que se deseja”, tudo se resume em que “os cinco agregados de apego são dukkha” . Os cinco agregados, ou skandhas, em sânscrito , designam as energias psicofísicas em constante mudança e interdependência cuja associação provisória compõe aquilo que na experiência não iluminada, condicionada por estes mesmos agregados, surge como um “ser”, um “indivíduo” ou um “eu”. A sua aparente unidade simples é assim um composto de vários elementos que só existem na sua interacção e não de modo autónomo. Se os apresentamos aqui pela ordem tradicional, convém ter presente que a sua manifestação é simultânea e que a presença de um implica a de todos os outros: 1 - formas (rupa), físicas e mentais, exteriores e interiores, incluindo os seis objectos dos órgãos dos sentidos físicos e mental e estes mesmos órgãos; 2 - sensações (vedana) físicas e mentais dessas formas, agradáveis, desagradáveis ou neutras; 3 - percepções (sanna), que reconhecem, discernem e identificam os objectos da experiência física e mental; 4 - formações mentais, kármicas ou volicionais (samskara), que determinam a actividade positiva, negativa ou neutra da mente e elaboram assim a visão/experiência individual do mundo, sendo a cada instante o efeito das volições e acções passadas e a causa das presentes, cujo efeito é por sua vez causa das futuras; é por estas formações que desde sempre é construído, consciente ou inconscientemente, o modo agradável, desagradável ou neutro de manifestação dos objectos-formas na sensação, na percepção e na consciência; as referidas formações compreendem assim “todos os automatismos habituais de pensamento, sentimento, percepção e acção”; 5 - consciências, em número de seis, conforme os seis órgãos e objectos dos sentidos físicos e mental, unificadas na consciência (vijñana), instância não autónoma que apenas efectua a síntese da experiência dos demais agregados em termos da dualidade que a instaura como um sujeito conhecedor de um objecto . Aqui concorre e daqui decorre a ideia, adventícia e falsa, da existência de um “eu”, ou de uma entidade intrínseca, naquilo que não é senão a associação provisória, interdependente e em mutação constante de cinco forças e funções psicofísicas. Na verdade, a ideia de “eu” não é senão uma das cinquenta e duas formações mentais elaboradas pelo quarto agregado , efeito e causa da projecção da mente, da palavra e do corpo no domínio da causalidade kármica, ou seja, no domínio da acção dualista, condicionada por e condicionadora de experiências, externas e internas, de separação e relação entre sujeito e objecto .
É neste sentido que, regressando ao Sutra da Roda da Lei, “os cinco agregados de apego são dukkha” . Dukkha, em primeiro lugar, na acepção, mais profunda, de que são vazios de existência própria, de que são insubstanciais, não existindo em si e por si, como uma entidade sólida e permanente, mas antes como um fluxo contínuo e sempre diverso de experiências psicofísicas, sendo uma delas, que se torna habitual e predominante entre muitas possíveis, a de haver um seu sujeito, que fosse o seu suporte único e imutável ou que de algum modo lhes conferisse uma unidade permanente, sem que isso corresponda a mais do que a uma volição/noção inadequada à realidade, se bem que, segundo os contextos histórico-culturais, adequada ao mundo convencional da linguagem, das representações e das práticas humanas. Em segundo lugar, os cinco agregados são dukkha na medida em que, havendo “apego” a eles, ou seja, havendo adesão à ideia da sua existência em si e por si, o suposto sujeito que resulta dessa adesão, isto é, a experiência de haver sujeito que daí resulta, não pode ser senão uma experiência infeliz, com a insatisfação, o mal-estar, a frustração e o conflito inerentes a supor-se algo de permanente e idêntico, independente e substancial, onde não há senão impermanência e mutação, interdependência e vacuidade-insubstancialidade. Havendo adesão e apego à existência em si e por si das formas-objectos, das sensações, das percepções, das formações mentais e da consciência, a experiência psicosensorial do mundo, nas suas modalidades agradável, desagradável e neutra, tende a esquecer-se como algo que é construído na construção da própria ideia/experiência de haver sujeito e tende assim a solidificar-se, a reificar-se, como se fosse algo de objectivo, real e permanente. O positivo, o negativo e o neutro surgem como qualidades objectivamente inerentes aos objectos da percepção quando na verdade são a projecção da mente que, não o reconhecendo, deseja, rejeita ou deixa na penumbra da desatenção as suas próprias ilusões. Pelo apego aos cinco agregados e à ideia de constituírem um sujeito independente reforçam-se assim as três emoções de base da mente não iluminada – desejo possessivo, aversão e indiferença - que, como veremos, originam as acções e reacções estruturadoras de todos os estados condicionados e dolorosos do ciclo das existências ou samsara.
Se questionássemos, neste momento, quem se ilude e apega aos agregados e à ideia/experiência de haver um sujeito independente que seja o protagonista e proprietário da experiência de si e do mundo, a resposta do Buda, dos Budas, não dogmática mas movida pelo pragmatismo da compaixão, pois sempre em função das capacidades de entendimento de quem põe a pergunta e do que lhe for mais benéfico ouvir nesse preciso instante, pode ser vária, incluindo o silêncio radical . Pela nossa parte, diríamos que esta questão está condicionada pela mesma ilusão e apego ao pressuposto de haver um sujeito dos actos e das experiências, ou seja, neste caso, um sujeito do próprio apego à ideia de haver um sujeito, um sujeito da própria ilusão de haver sujeito. Ilusão inerente a esse senso comum arraigado no pensamento, sobretudo ocidental, enquanto crença e juízo ingénuos de que a existência de pensamento e actividade implica a de um pensador e agente, humano ou divino, ou de que ser seja ex-istir e ser sujeito. Ilusão que, pretendida verdade filosófica nas tão vulgares certezas de Santo Agostinho e Descartes, fundadas na suposta auto-evidência do cogito , persiste no transcendentalismo de Kant e Husserl, que não ousa estender a epoché ao próprio sujeito transcendental . Aqui, de facto, o pensamento budista pratica desde o início uma fenomenologia sem qualquer pressuposto transcendental. Como diz Buddhaghosa: “Só o sofrimento existe, mas não se encontra nenhum sofredor; / Os actos são, mas não se encontra actor” . Ou ainda o monge Walpola Rahula: “Não há motor imóvel por detrás do movimento. (...) Não há pensador por detrás do pensamento. O pensamento é ele próprio o pensador. Não podemos deixar aqui de notar como esta ideia budista se opõe diametralmente ao “cogito ergo sum” cartesiano: “Eu penso, logo existo”” .
Na verdade, regressando ao Sutra da Roda da Lei, a segunda Nobre Verdade indica que a causa dessa dukkha, agora apenas no seu aspecto de sofrimento, inerente aos “cinco agregados de apego”, é a “sede” (tanha, em pali, trshna, em sânscrito). “Sede” no sentido de um desejo ávido e insaciável que assume três aspectos: sede dos prazeres sensoriais; sede da existência e do devir; sede da não-existência ou auto-aniquilação . “Sede” que assim, em qualquer dos casos, supõe a ideia/experiência de haver sujeito, indissociável do desejo ávido da sua gratificação positiva, da sua persistência ou da sua gratificação negativa, na medida em que o desejo de não ser é ainda um desejo egocêntrico de não sofrer, que denuncia o apego à ideia de existência própria. Mas como surge essa ideia/experiência de haver sujeito, ou, afinal, o desejo de o haver ? Se no Sutra da Roda da Lei se põe a tónica nesta “sede” como causa de dukkha, outros textos onde se fixou o ensinamento do Buda, como aqueles relativos aos doze elos da produção condicionada, ou interdependente, atribuem a origem da existência condicionada à “ignorância” (avidya) . É pela “ignorância” que se produzem as “formações kármicas”, as tendências inconscientes ou semi-conscientes que dão forma à percepção global do mundo e impulsionam a agir de modo positivo, negativo ou neutro, e é por elas que se produz a “consciência” dualista, propulsionada de experiência em experiência e de existência em existência. A “consciência” condiciona o “nome e forma”, ou os cinco agregados, que condicionam as “fontes dos sentidos”, que condicionam o “contacto”, que condiciona a “sensação ou sentimento”, que condiciona a “sede ou desejo”, que condiciona a “preensão ou apego”, que condiciona o “devir ou existência”, que condiciona o “nascimento ou renascimento”, que condiciona a “velhice e morte”. Cessando a “ignorância” cessam as “formações kármicas”, cessando estas cessa a “consciência” dualista, e assim sucessivamente, até à cessação do nascimento”/”renascimento” e portanto da “velhice e morte” . Como se constata, a “consciência” dualista, imediata condicionante dos cinco agregados da suposta individualidade, é por sua vez condicionada por essas tendências obscuras, no limiar entre a inconsciência e a consciência, que são as “formações kármicas”, como estas o são pela “ignorância”. A ideia/experiência/desejo de existir tem assim uma proto-história que progressivamente se afunda no irracional e no desconhecido, primeiro na penumbra das pulsões e depois na treva da cegueira (cf. a sugestão etimológica de avidya, a não visão, termo sânscrito traduzido por “ignorância”).
Mas em que consiste esta “ignorância” ? É o momento de passarmos ao segundo ciclo do ensinamento do Buda, considerando alguns textos do Mahayana, onde se considera que o Dharma do Buda passa dos sentidos provisórios ou interpretáveis ao sentido definitivo , ou, de outro modo, da verdade relativa, condicionada pelos limites do intelecto conceptual, à verdade absoluta. No Sutra do Rebento de Arroz o Buda afirma: “Ó monges, todo aquele que vê a produção interdependente vê o Dharma. Todo aquele que vê o Dharma vê o Buda” . Tentemos pois, agora mais de perto, e olhando melhor, ver o Buda... Se a “produção interdependente” tem dois aspectos, relativos aos fenómenos exteriores e interiores, interessa-nos aqui fundamentalmente o segundo. Na medida em que depende de “causas”, a “produção interdependente” verifica-se pelo encadeamento constante dos doze elos enunciados, que, numa comparação, “desde tempos sem começo passam à imagem da corrente ininterrupta de um rio” , da “ignorância” até à “velhice e morte”. Na medida em que depende de “condições”, a “produção interdependente” verifica-se na combinação de seis elementos, a terra, a água, o fogo, o ar, o espaço e a consciência, composta das cinco consciências sensoriais e da consciência mental dualista, o que manifesta os cinco agregados da individualidade psicofísica . Ora a “ignorância “ no que respeita às “condições” determina a “ignorância” no que respeita às “causas”. Vejamos, mediante uma transcrição do texto em apreço: “O que é a ignorância ? É o que capta os seis elementos como uma coisa única, como uma globalidade, o que os concebe como eternos, consistentes, imutáveis, agradáveis, como um “si”, um ser dotado de espírito, um ser vivo, um indivíduo, um criador, um macho, uma pessoa, um descendente de Manu, um ser humano, um denominado “eu”, um suposto “meu”, em suma, toda uma diversidade de equívocos: eis o que se chama “ignorância”. Da presença de uma tal ignorância decorrem o desejo, a cólera e a indiferença em relação aos objectos. Esta atracção, esta aversão e esta indiferença aos objectos constituem o que se chama “formações kármicas condicionadas pela ignorância”. O que toma conhecimento dos diferentes aspectos das coisas existentes é a consciência” . Segue-se a já conhecida enumeração dos demais elos da produção interdependente. Mais adiante, o sutra define a “ignorância” como este “desconhecimento que, não compreendendo o real, o interpreta falsamente”. Dessa má interpretação decorrem as formações kármicas indutoras de acções meritórias, demeritórias ou não indutoras de qualquer movimento. Destas resultam, respectivamente, consciências tendentes ao meritório, ao demeritório ou à inércia .
Se os doze elos da produção interdependente se manifestam em conjunto, como o movimento constante das águas de um rio, há todavia um deles que, sendo implícito em todos os demais, como a instância da qual depende a contínua reiteração de todo o processo, uma vez anulado, pode esgotar o fluxo dessa corrente, ou seja, o fluxo de dukkha. É a “ignorância”, a qual em verdade não consiste em nada de real e positivo, antes num não reconhecimento das coisas como são, que leva a uma versão errónea das mesmas. Em que consiste essa versão falsa ? Exactamente em interpretar os componentes psicofísicos, múltiplos, impermanentes e interdependentes, jamais idênticos a si mesmos um único instante, tal o rio de Heraclito , como uma unicidade, um todo, uma entidade, um ser individual, espiritual e vivo, uma pessoa, um homem, um eu que se possui a si mesmo, eterno, consistente, permanente e desejável enquanto tal. Ou seja, exactamente isso que cada um de nós julga ser...
Se, no mesmo sutra, se diz que os doze elos da produção interdependente se podem resumir a “quatro causas de actividades”, a ignorância, a sede ou as paixões, o karma e a consciência, afirma-se, numa comparação, que “o karma e as paixões produzem a semente da consciência”, sendo ao mesmo tempo o karma um “húmus” para ela. Quanto à sede, “ela impregna a semente da consciência”, sendo a ignorância que a “semeia”. Sem estas “condições causais, a semente da consciência não se desenvolverá”, mas com elas entrará numa “matriz materna”, onde manifestará o “rebento do nome e da forma”, ou seja, a aparente individualidade psicofísica. Esta surge assim num processo que desde o início não é consciente, intencional e teleológico, onde as causas, as condições e o resultado não sabem nem pretendem sê-lo, como claramente afirma o texto. Por outro lado, não se pode dizer que a aparente individualidade se crie a si mesma, que seja a criação de outro, como “um Deus todo poderoso” ou a “natureza”, ou as duas coisas simultaneamente. Produto de causas e condições, desde a “ignorância” à união do pai e da mãe num período lunar favorável, a “semente da consciência” – “se bem que fundamentalmente sem proprietário, sem pertença, semelhante ao céu, totalmente fantasmagórica”, “inapreensível” e como uma “ilusão” – produz por sua vez a aparente individualidade dos agregados .
É neste sentido, entendendo-se o suposto indivíduo como algo que se manifesta mas que não existe realmente, que se pode compreender a sequência do sutra, radicalmente depuradora de muitas concepções equívocas dentro do próprio budismo. Não há assim, nas palavras do Buda, “nada que transmigre deste mundo para um outro mundo”, “ninguém que transmigre na morte e renasça algures”, embora, não faltando “nenhuma das causas e condições, os frutos do karma se manifestem claramente”, tão claramente como o “reflexo de um rosto num espelho” ou do disco lunar numa superfície aquática: embora nada se transfira para esses lugares, a aparência surge aí bem nítida .
Em que consiste, afinal, a “produção interdependente interior” ? Ela tem cinco aspectos: 1 - “não é eterna”, no sentido de possuir uma identidade própria e imutável, pois “os agregados do momento da morte” e os “que pertencem ao nascimento seguinte” não são os mesmos; 2 - “não é um nada”, no sentido de designar uma pura descontinuidade, sem qualquer relação entre os seus termos, porque não é por causa da cessação nem da não-cessação dos primeiros agregados que os segundos aparecem, nascendo os segundos no mesmo instante da morte dos primeiros, como um prato da balança “sobe quando o outro desce”; 3 - “não é transmigração duma essência” porque “seres animados de espécies diferentes manifestam renascimentos da mesma espécie” (e vice-versa, no plano da ilusão não reconhecida como tal); 4 - nela uma “pequena causa” (acção) pode originar “um grande efeito” kármico; 5 - há nela uma “continuidade no semelhante”, uma vez que os efeitos correspondem às causas. Conforme a seguir se explicita, a sua natureza é a de algo que, se bem que “incessante”, na verdade não corresponde a nada de absolutamente real. Ela é assim “inexistente, sem conteúdo nem substância; desprovida de essência; tal uma doença, um abcesso, um sofrimento, um vício; impermanente, dolorosa, vazia, desprovida de si”
.
Mas o mais importante são as consequências do seu efectivo reconhecimento como tal. Diz o Buda que quem assim verdadeiramente a vê, “tal qual”, “não se questiona mais a propósito do passado: “Eu era eu no passado ou eu não era eu ? Que era eu no passado ? Como era eu no passado ?”. Ele assim não pensa mais no que o precedeu. Do mesmo modo, não imagina o que se vai seguir questionando-se: “Eu serei eu no futuro ou eu não serei eu ? Que serei eu no futuro ? Como serei eu no futuro ?”. Quanto ao presente, ele já não reflecte nele pensando: “O que é isto ? Como é isto ? Existindo isto, o que se tornará aquilo ? De onde vêm estes seres animados ? Onde irão eles depois da sua morte ?” . Ou seja, como no início do sutra se anunciou, quem vê a produção interdependente vê o Dharma e quem vê o Dharma vê o Buda. Quem vê o Buda vê a vacuidade do questionador e logo a das atormentadoras e irrespondíveis questões que o supõem, aquelas mesmas que emergem na consciência humana e são o alento da própria busca filosófica e religiosa, decerto legítimas e úteis enquanto movidas pela busca da verdade, porém dissolvidas como ilusórias pela “sabedoria”, a suprema das virtudes, que assim traz ao espírito a paz profunda .
Daí a exortação final do sutra, a que se abandonem como erradas as diversas “opiniões” dos “ascetas e brâmanes deste mundo”, como as que afirmam “a existência do eu”, “a existência dos seres animados”, as que “afirmam a vida”, “a existência da pessoa ou ainda o carácter benéfico das cerimónias”. Cortadas “pela raiz”, não renascerá mais uma visão falsa das coisas, libertando-se doravante os “fenómenos” - exteriores e interiores, como aqueles interpretados como o “eu” e seus objectos, diríamos nós - dos conceitos de “nascimento” e de “cessação”, de algo que realmente surge e que realmente se extingue. Finalmente, o Iluminado, “o incomparável Instrutor dos deuses e dos homens”, profetiza que todo aquele que assim se equipe com “a paciência a respeito do real penetrará a fundo e verdadeiramente a produção interdependente” e “tornar-se-á um Buda autêntico e perfeito” . A paciência (kshanti), quarta virtude transcendente do Mahayana – aqui no sentido último em que consiste em não temer e suportar a verdade, não rejeitando o Dharma por mais que ele, por exemplo nos ensinamentos sobre a vacuidade, transcenda ou perturbe os nossos conceitos habituais - , abre-se para a sabedoria e esta para a Iluminação plena, ou seja, para o estado de Samyaksambuda.
Constatamos assim que a compreensão profunda da Segunda Nobre Verdade, sobre a origem de dukkha, conduz naturalmente à Terceira e Quarta Nobres Verdades, respectivamente referentes à “cessação” (nirodha) de dukkha e ao “caminho” (marga) que aí conduz . Isto porque compreender e experimentar verdadeiramente, não de forma meramente intelectual, que na origem de todo o sofrimento está um mal-entendido, residente em supor-se uma existência e id-entidade intrínsecas onde nada há que corresponda realmente a tais conceitos, implica desde logo a “cessação” das causas de dukkha - a “ignorância” e a “sede” ou “desejo ávido” egocentrado, o desejo de auto-gratificar-se na existência ou na aniquilação - , mediante a sabedoria que culmina o “óctuplo caminho” enunciado pelo Buda no Sutra da Roda da Lei. É assim que o nirvana (“extinção”), seja entendido como o equivalente de nirodha ou como o seu resultado, é definido de modo negativo, não como a extinção do quer que seja de real, que viesse anular, mas como a extinção da ilusão de haver algo que em verdade nunca existiu, não tendo alguma vez surgido e logo não podendo alguma vez extinguir-se.
Compreender profundamente a natureza enganadora da “ignorância” (avidya), reconhecendo a vacuidade do suposto de substancialidade no eu e nos fenómenos, é já um exercício de “sabedoria” (prajna) que, embora no seu aspecto negativo, tem por resultado a inibição das formações kármicas – desejo possessivo, aversão e indiferença – e a libertadora cessação de toda a produção condicionada e condicionadora da consciência dualista e da existência marcada por dukkha. No que respeita ao tema em apreço, o da identidade pessoal, reconhecer o modo como ela verdadeiramente aparece, enquanto suposto ou imputação conceptual sem qualquer raiz na impermanência e interdependência dos agregados psicofísicos, ou seja, reconhecer a sua vacuidade, é num sentido ver que não há dualidade entre a sua manifestação e a sua cessação e, num outro, mais fundo, é ir além destes mesmos conceitos. Como diz um dos bodhisattvas intervenientes no Sutra da Liberdade Inconcebível: “A pessoa e a cessação da pessoa constituem dualidade. Ora a pessoa é cessação da pessoa, pois aquele que vê a Aparência real da pessoa não crê na pessoa nem na sua cessação. A pessoa e a sua cessação não são duas realidades diferentes: permanecer neste estado sem apreensão nem terror é aceder ao Real na não-dualidade” .
É este um ponto de capital importância, para prevenir qualquer leitura niilista do Dharma do Buda, como as que muitas vezes precipitadamente se fazem, entendendo-o como uma prática de negação ou aniquilação do “eu”. Como escreve Walpola Rahula: “Não é absolutamente uma aniquilação do eu, porque em realidade não há eu a aniquilar. Se há uma aniquilação, é a da ilusão que dá a falsa ideia de um eu” .
Apontando a Via do Meio equidistante dos dois extremos, eternalismo/realismo e niilismo, adesão ao ser ou ao nada, crença numa entidade e substância intrínseca e permanente do eu e dos fenómenos ou postulado da sua aniquilação – mas note-se que se considera mais grave o erro niilista do que o eternalista, pelas suas habituais consequências éticas - , o Dharma do Buda distingue entre a “verdade relativa”, que descreve o modo como as coisas convencionalmente se manifestam, em função do intelecto conceptual e dualista, e a “verdade absoluta”, que designa o seu modo real, para além da dualidade e dos conceitos . Neste sentido, ensinamentos como o das Quatro Nobres Verdades, no Sutra da Roda da Lei, são considerados, ao nível do Mahayana, como tendo ainda um sentido provisório, referente à verdade relativa, devendo ser interpretados à luz da verdade absoluta e dos textos com um sentido definitivo, esses “textos abissais”, como o Sutra da Liberdade inconcebível, cuja simples escuta se diz purificar o espírito e o destemor perante eles revelar os “praticantes de longa data” . É o que acontece no Sutra do Coração do Conhecimento Transcendente, onde, ao nível da verdade absoluta, se explicita a vacuidade dos cinco agregados da suposta individualidade, já inerente ao primeiro sentido da sua identificação com dukkha, extraindo-se todas as suas consequências. Sendo indistintos a vacuidade e os fenómenos, estes “não nascem nem cessam”. Os cinco agregados e as seis formas e objectos das consciências não existem propriamente. Os doze elos da produção condicionada, desde a ignorância até à velhice e à morte, não existem nem cessam. O mesmo a respeito das quatro nobres verdades: não há dukkha, nem sua origem, nem sua cessação, nem via. Não há, assim, “sabedoria” nem qualquer “fruto a atingir ou a não atingir”, o que, num paradoxo apenas aparente, é na verdade o estabelecer-se dos bodhisattvas no “Conhecimento transcendente”. Sem véus mentais, sem medo do quer que seja, sem qualquer “distorsão”, acedem assim ao “nirvana” .
É no mesmo sentido que no Sutra do Diamante, instando os bodhisattvas a cultivarem um espírito que não se fixe, “coagule” ou “apoie” em nada , positivo ou negativo, em nenhum conceito, seu contrário ou sua ausência , como os de “fenómenos”, “eu”, “ser animado”, “vida” ou “indivíduo” , o Buda ensina que não há qualquer “entidade chamada “bodhisattva”” e, a seu próprio respeito, que não pensa haver atingido qualquer “fruto” da libertação , que “não há ninguém de real” a quem possa ser atribuída tal qualificação, que não possui “qualquer realidade de Buda completamente revelada na Iluminação”, que “não ensinou qualquer doutrina que seja” , nenhuma “realidade” e “nenhum Dharma” , e que, se bem que guie “inumeráveis seres” “além do sofrimento”, em verdade jamais algum “ser animado” se libertou ou foi libertado por si . Totalmente incondicionado e inconcebível, no sentido de ser inapreensível por qualquer conceito, “o Despertar insuperável, autêntico e perfeito é desprovido de eu, de qualidade de ser sensível, de vida, de individualidade” . É por isso, como se explicita, que ver os Budas é ver a “realidade absoluta”, enganando-se aqueles que julgam vê-los na sua forma física ou escutá-los no som da sua voz . Segundo a interpretação que o Buda faz da sua própria designação, “”Tathagata” significa “Que não vem de lugar algum e não vai a lugar algum”” . Convidando a ver “todos os fenómenos condicionados” como, entre outras imagens, “uma ilusão mágica”, “um sonho, um relâmpago ou uma nuvem” , o Buda mostra como o chamado “budismo” implica um desprendimento e uma transcendência de todas as discriminações conceptuais e reificadoras, incluindo as de “Buda”, “Dharma” e “verdade”. É neste sentido que compara “as numerosas realidades do Dharma” a uma “jangada”, convidando ao desapego da ideia da sua realidade ou irrealidade , e é neste sentido ainda que proclama que no “Dharma” “não se encontra mais verdade do que mentira” . Sendo o Dharma útil e eficaz para atravessar o oceano do samsara em direcção à outra margem do nirvana, à Iluminação – mas apenas enquanto se está no samsara de pensar que há alguém a iluminar, que há samsara e nirvana, com seus respectivos sujeitos, os seres sensíveis e os Budas, enquanto entidades realmente existentes, em si e por si, que não sejam ainda fenómenos condicionados por avidya, a ignorância - , tudo se altera com o reconhecimento da vacuidade de tudo isso. A Iluminação, ver o que antes se não via, ou o Despertar, o acordar de um sonho por se o reconhecer como tal, é assim um estado aquém-além da subjectividade e da sua negação, de posições e negações, de teorias, de filosofias. Nele não há nem não há identidade pessoal. E, mais do que isso, a questão pura e simplesmente não se coloca , por mais estranho que isso possa parecer. Mas não será tão estranho se podermos ficar um instante que seja com a mente calma e luminosa, tão vazia, livre e infinita como o espaço...
Todavia, não chegámos ainda à última palavra do Dharma do Buda. Se até aqui seguimos um caminho desconstrutivo, conforme a dialéctica desenvolvida na escola Madhyamika, uma das duas grandes escolas do Mahayana, por Nagarjuna – autor incontornável, cujo pensamento não podemos aqui expor - , convém abordar a questão segundo o espírito do Vajrayana, ou do terceiro e final ciclo de ensinamento do Buda. Com efeito, se ao nível do primeiro ciclo de ensinamento do Buda Shakyamuni se indica a identidade do “Incondicionado” (“Asamkhata”, em pali) com o nirvana, designando-os de uma forma puramente negativa, como “a extinção do desejo”, do “ódio” e da “ilusão” , já no Vajrayana se desenvolve a experiência das qualidades dessa natureza primordial e profunda, ou Natureza de Buda, presente em todos os seres, além dos limites da consciência obscurecida pelos conceitos e pelas emoções. É aquilo que se designa rigpa, no Ati-Yoga ou Dzogchen, a Grande Perfeição, o derradeiro dos veículos tântricos na escola Nyingmapa, que visa a experiência directa e imediata da natureza fundamentalmente livre e iluminada de todos os estados de consciência. Sendo a Natureza de Buda idêntica à natureza da mente, e se bem que esta transcenda conceitos e palavras, podemos considerá-la segundo três aspectos, absolutamente indissociáveis e simultâneos, que aqui apresentamos segundo o ensinamento de Kalu Rinpoche: 1 - vacuidade, enquanto algo que não é uma entidade, com características conceptualizáveis, sendo inobjectivável e assim livre, indestrutível, omnipresente e omnipenetrante como o espaço; 2 – luminosidade-lucidez, pela qual não é inerte mas antes dotada da capacidade de experimentar e conhecer claramente, sem qualquer dualidade; 3 - inteligência ilimitada ou infinitude, designando a infinita possibilidade de conhecimento e experiência, sem qualquer limite ou obstáculo; aqui se inclui também uma dimensão afectiva e sensível, ou seja, as espontâneas e infinitas manifestações da compaixão para libertar os seres iludidos no samsara. Sendo esta natureza da mente sempre a mesma, e a mesma “em todos os seres, humanos ou não humanos”, Budas e seres comuns distinguem-se apenas pelo reconhecimento ou não destas suas qualidades fundamentais, as quais, não sendo reconhecidas, geram as formas habituais de consciência, tidas por normais mas ilusórias . Sendo a mente uma intemporal e omni-abrangente auto-consciência, idêntica ao Buda primordial, Samantabhadra, há nela todavia, numa perspectiva, como uma das suas possibilidades infinitas de experiência, a virtualidade de se não reconhecer, de se obscurecer, de se desconhecer e de assim velar essa sua natureza primordial, sempre presente e jamais maculada. É o véu da “ignorância fundamental”, que se desenvolve no “véu da propensão fundamental” para a dualidade sujeito-objecto, aquilo que se designa já como “ignorância determinada”. Ignorando o “espaço” infinito da “vacuidade”, a mente substitui à experiência primordial da consciência, “sem centro nem periferia”, a de “um ponto de referência central a partir do qual tudo é percepcionado” e que se apropria de todas as experiências como as suas experiências. Nasce assim a ilusão de haver um “observador, o ego-sujeito”, a ilusão da identidade subjectiva. Simultaneamente, não reconhecendo a natureza auto-consciente da sua “luminosidade-lucidez”, a sua experiência converte-se na de “alguma coisa de outro”. Nasce assim a ilusão de haver objectos distintos, a ilusão da alteridade objectiva, que assume duas formas, a dos fenómenos ditos externos e a dos fenómenos ditos internos. Segue-se o “véu das paixões”, que resulta da concomitante ignorância do terceiro aspecto da mente no seu estado primordial, a “inteligência ilimitada”, que se converte na experiência de todas as formas de ilusória relação que se podem verificar entre sujeito e objecto, do que resulta, ao nível do sujeito, a atracção pelo que parece agradável, a repulsão pelo que parece desagradável, a indiferença pelo que parece neutro. Na verdade, uma absurda atracção, repulsa e indiferença da mente em relação a si mesma. Daí resulta o derradeiro véu, o do “karma”, ou da “actividade condicionada”, na medida em que aquelas três emoções se combinam na origem das seis – desejo possessivo, ódio/cólera, ignorância ou torpor mental, orgulho, avidez/avareza e inveja/ciúme – que promovem os múltiplos e ilusórios actos dualistas que fazem com que a consciência primordial não menos ilusoriamente construa a experiência dos seus efeitos, renascendo sob formas aparente e provisoriamente individuais nos seis mundos do samsara . Os quais, embora insatisfatória e dolorosamente experimentados como tais, não são substancialmente reais, mas apenas estados de alucinação perceptiva, projectados como ilusões mágicas pela força kármica do predomínio de uma daquelas emoções: do desejo possessivo resulta o mundo humano, do ódio/cólera o dos infernos, da ignorância ou torpor mental o dos animais, do orgulho o dos deuses, da avidez/avareza o dos espíritos ávidos e da inveja/ciúme o dos titãs ou semi-deuses. A mitologia de cada um destes mundos é na verdade uma psicologia simbólica das nossas profundezas pulsionais .
Todavia, recordando o que dissemos, estas pulsões não são outra coisa senão a nossa natureza e energia primordiais manifestando-se distorcidas pela ilusória dualidade. É como se, numa imagem, nós fôssemos realmente vidya, a “inteligência primordial”, um espaço insubstancial, luminoso e infinitamente aberto, sem qualquer referência, e depois, subitamente, surgisse a “consciência de si”, a consciência de que “eu” estou perante esse espaço, de que há “o espaço e eu”, o que o objectiva e solidifica no mesmo lance pelo qual me objectivo e solidifico. O espaço primordial de vidya não desapareceu, apenas o deixámos de reconhecer como tal, percepcionando-o agora, e a nós mesmos, como duas entidades distintas. Havendo construído tal percepção dualista ignoramo-lo e, para nos confirmarmos e assegurarmos naquilo que doravante nos cremos, e pela força do hábito, supomos que a realidade sempre foi como a passamos a percepcionar. É nisto que consiste avidya, a ignorância, a qual é, num sentido, deliberada , pois implica sempre, nas profundezas da consciência, simultaneamente a experiência do espaço luminoso primordial e, como indica um dos sentidos do verbo ignorar, por exemplo em português e inglês, não só o mero desconhecer mas o não fazer caso, o desconsiderar, o desprezar, isso mesmo que se conhece e reconhece, fazendo de conta que assim não é... Não podemos ir aqui mais longe, mas esta linha de interpretação implica nesta ignorância um sentido de hipocrisia e dissimulação da consciência que pode trazer nova luz a esta questão.
É ainda neste sentido que o budismo tibetano, fundamentalmente do Vajrayana, designa, como vimos, o Buda como Sangyé, indicando um estado de plena purificação e manifestação ou desenvolvimento. Purificação no sentido de remoção de todos os véus ou obscurecimentos atrás referidos – e que agora podemos ver como tendo a sua raiz numa certa e absurda recusa do estado livre e iluminado que não se pode deixar de ser - que é, implicitamente, a manifestação ou o des-envolvimento plenos daquilo que sempre há no mais íntimo de cada ser : a vacuidade, luminosidade e inteligência/compaixão infinita, aquilo que, num texto do Dzogchen, corresponde respectivamente aos três níveis da realidade, Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya , ou seja, à própria natureza do Buda primordial, e, no seu sentido mais profundo, às Três Jóias de todo o budismo: Buda, Dharma e Sangha.
Não gostaríamos de terminar esta porventura penosa luta contra os nossos hábitos e medos ancestrais sem uma sugestão, para quem no mínimo possa ter a curiosidade de fazer a experiência, de um modo prático e simples de reconhecer e redescobrir essa nossa natureza iluminada. A hipótese, a verificar por si mesmo, como tudo no Dharma do Buda, é que ela está sempre presente no âmago de todas as nossas experiências e percepções dualistas, conceptuais e emocionais, e em particular nas seis emoções samsáricas atrás enumeradas. Se formos então capazes de, no instante mesmo em que surgem, lhes prestar uma plena atenção, consciencializando-as apenas, sem qualquer dualidade, sem indiferença, apego ou aversão, sem as rejeitarmos e com elas entrar em conflito, mas também sem nos deixarmos arrastar e distrair por elas, poderemos por ventura constatar que as emoções auto-libertar-se-ão na experiência de um particular aspecto da primordial sabedoria não-dual . O veneno ter-se-á transformado em antídoto pela virtude da alquimia natural do não re-agir. E, sem ser necessário retirar-se do mundo, toda a situação e experiência da vida quotidiana será uma oportunidade única para vermos quem realmente somos. Este espaço livre e absoluto onde nunca houve ideia de eu ou de não-eu. Mesmo que nele continuemos a fazer de conta: que não o vemos, que não o somos, que a Liberdade e a Luz não são o nosso Bem mais íntimo e inalienável...
Notas de rodapé:
Cf. Kalou Rinpoché, La voie du Bouddha selon la tradition tibétaine, prefácio de Sua Santidade o Dalai Lama, uma antologia de ensinamentos realizada sob a direcção do Lama Denis Teundroup, Éditions du Seuil, 1993, pp.37-38.
Cf. Philippe Cornu, “Bouddha”, Dictionnaire Encyclopédique du Bouddhisme, Paris, Éditions du Seuil, 2001, pp.87-93, pp.87-88.
Cf. Philippe Cornu, «Vacuité», Ibid., pp.645-646.
É num sentido afim, embora não coincidente, que em Mestre Eckhart se reconhece que a auto-posição do “eu” na existência é “causa” de que “Deus seja “Deus””, ou seja, de que a Gottheit, a Divindade, enquanto abismo primordial e indiferenciado, se manifeste como Gott, como um Deus com o atributo de o ser, como uma determinação, pela e para a consciência e o homem – cf. Mestre Eckhart, Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum, in Sermons, II, apresentação e tradução de Jeanne Ancelet-Hustache, Paris, Éditions du Seuil, 1978, p.149. Cf. também p.146. Sobre a questão, cf. Paulo A. E. Borges, “Ser ateu graças a Deus ou de como ser pobre é não haver menos que o Infinito. A-teísmo, a-teologia e an-arquia mística no sermão “Beati pauperes spiritu...”, de Mestre Eckhart”, in Signum, Revista da ABREM – Associação Brasileira de Estudos Medievais, nº4 (São Paulo, 2002), pp.49-69.
Eckhart indica a possibilidade de uma experiência não teísta de Deus. Como diz o Lama Denis Teundroup: «En ce qui concerne Dieu (...), au niveau de cette connaissance non-dualiste, le «moi» et l’ «autre» se révèlent être des illusions ; dans celle-ci «moi» n’existant pas, «Dieu», l’Autre, n’existe pas non plus ! Néanmoins, cette double inexistance du sujet et de son objet, qu’on appelle la non-dualité, pourrait, par une logique paradoxale, être dite «l’ultime existence de Dieu». Mais un théiste ne serait sans doute pas d’accord ?» - Le Dharma et la Vie (entretiens avec Philippe Kerforne), Paris, Albin Michel, 1993, pp.50-51.
Boécio, De duabus naturis et una persona Christi, cap.3; PL 64, 1345.
Cf. os extensos artigos de Joaquim Teixeira, “Hipóstase” e “Pessoa”, in Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, 2, Lisboa/S.Paulo, Verbo, 1990, cols. 1138-1145 e Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, 4, Lisboa/S.Paulo, Verbo, 1992, cols. 95-120.
Cf. Joaquim Teixeira, “Hipóstase”, in Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, 2, col. 1139.
Cf. Id., Ibid., col. 1141.
Cf. Id., “Pessoa”, in Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, 4, col. 97.
Cf. Homero, Odisseia, IX.
Cf. Stanislas Breton, Rien ou Quelque Chose. Roman de métaphysique, Flammarion, 1987, pp.14-19. Cf. o “inefável” ou “nada absoluto segundo o melhor” de Damáscio - Traité des premiers Principes. I. De l’Ineffable et de l’Un, texto estabelecido por Leendert Gerrit Westerink e traduzido por Joseph Combès, Paris, Belles Lettres, 1986, pp.4-22. Cf. também Enrico Castelli-Gattinara, “Quelques considérations sur le Niemand et ... Personne”, in AA.VV., Folie et Déraison à la Renaissance, Bruxelas, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1976, pp.109-118.
Cf. Copilaçam de todalas obras de Gil Vicente, II, A Farsa da Lusitânia, introdução e normalização do texto de Maria Leonor Carvalhão Buescu, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983, pp.572-574.
Cf. Copilaçam de todalas obras de Gil Vicente, I, Auto da Barca do Inferno, introdução e normalização do texto de Maria Leonor Carvalhão Buescu, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983, p.211. Claro que o “Não sou ninguém” também pode ser lido no sentido oposto, como afirmação de se ser alguém... Mas também é defensável a ideia de que só quem não presume ter identidade pessoal é alguém de valioso, de são, ou digno de salvação, à luz da sapiência e moral evangélica do perder-se como salvar-se...
Veja-se, entre múltiplos exemplos de uma menos conhecida visão em que a identidade do sujeito simultaneamente se multiplica e desvanece: “Somos uma turba e ninguém” – Teixeira de Pascoaes, O Pobre Tolo (versão inédita), Obras Completas, introdução e aparato crítico por Jacinto do Prado Coelho, IX, Amadora, Livraria Bertrand, s.d., p.215.
Cf. Bernardo Soares, Livro do Desassossego, in Fernando Pessoa, Obras, II, organização, introdução e notas de António Quadros, Porto, Lello & Irmão - Editores, 1986, p.570. Cf. Paulo A. E. Borges, “”Posso imaginar-me tudo porque não sou nada. Se fosse alguma coisa não poderia imaginar”. Vacuidade e autocriação do sujeito em Fernando Pessoa”, in Pensamento Atlântico. Estudos e Ensaios de Pensamento Luso-Brasileiro, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2002, pp.319-332.
Cf. Roger-Pol Droit, Le Culte du Néant. Les philosophes et le Bouddha, Paris, Éditions du Seuil, 1997; Frédéric Lenoir, La rencontre du bouddhisme et de l’Occident, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1999, pp.81-209.
Francisco Varela, Evan Thompson e Eleanor Rosch, A Mente Corpórea, Ciência Cognitiva e Experiência Humana, tradução de Joaquim Nogueira Gil e Jorge de Sousa, Lisboa, Instituto Piaget, 2001, p.282.
Cf. Dhammacakkapavattanasutta, Samyutta-nikaya, Sacca-samyutta, II, I, in Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens. Étude suivie d’un choix de textes, Éditions du Seuil, 1978, pp.122-124, p.123. Cf. Carlos João Correia, “O Sermão de Benares”, Communio, nº3, Ano XVII (Lisboa, Maio-Junho de 2000), pp.266-276.
Cf. Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens. Étude suivie d’un choix de textes, pp.36-37.
Cf. Dhammacakkapavattanasutta, Samyutta-nikaya, Sacca-samyutta, II, I, in Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens. Étude suivie d’un choix de textes, pp.122-124, p.123.
Salvo indicação em contrário, transcreveremos os principais termos budistas na fonética do sânscrito, língua na qual são mais conhecidos
.
Cf. Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens. Étude suivie d’un choix de textes, pp.40-45; Philippe Cornu, “agrégats (cinq)”, Dictionnaire Encyclopédique du Bouddhisme, p.36.
Cf. Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens. Étude suivie d’un choix de textes, pp.45-46.
Cf. Paulo A. E. Borges, “Mente, Ética e Natureza no Budismo. A constituição kármica da experiência do mundo”, in AAVV., Ética Ambiental. Uma Ética para o futuro, organização e coordenação de Cristina Beckert, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2003, pp.149-163.
Cf. Dhammacakkapavattanasutta, Samyutta-nikaya, Sacca-samyutta, II, I, in Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens. Étude suivie d’un choix de textes, pp.122-124, p.123.
É o caso do silêncio em que o Buda se manteve perante as questões de Vacchagotta, que lhe perguntou primeiro se há um “Atman” e, depois, se não há um “Atman”. Depois de o seu interlocutor partir, o Buda explicou a Ananda que, além de outras razões, o seu silêncio visou evitar que assumisse quer uma posição e teoria eternalista, quer uma posição e teoria niilista. Na verdade, como explicou noutra ocasião ao mesmo Vacchagotta, o Buda “não tinha teoria porque tinha visto a natureza das coisas” - Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens. Étude suivie d’un choix de textes, pp.88-89.
Cf. Santo Agostinho, De libero arbitrio, II, III, 7; De civitate Dei, XI, 26; De Trinitate, X, 10, 14; Descartes, Discours de la Méthode, VI, 32; Principia philosophiae, VII, 17; Meditationes de prima philosophia, II, 3.
Já o mesmo não acontece, note-se, em algum pensamento português, onde a dúvida do sujeito a respeito da sua própria existência é um tema prefigurado em Antero, implícito em José Marinho e explícito em Teixeira de Pascoaes, Fernando Pessoa e Agostinho da Silva. Veja-se, por exemplo, quando este escreve, numa das suas quadras filosóficas: “Primeiro há um pensamento / que pensa sem pensador / e logo pensa quem pensa / que pensa tudo ao redor” - Agostinho da Silva, Quadras Inéditas, s.l., Ulmeiro, 1990, p.102.
Buddhaghosa, Visuddhimagga, Londres, Pali Text Society, p.513.
Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens, pp.46-47.
Cf. Dhammacakkapavattanasutta, Samyutta-nikaya, Sacca-samyutta, II, I, cit. in Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens. Étude suivie d’un choix de textes, pp.122-124, p.123.
Cf., por exemplo, Vinayapitaka e Majjhima-nikaya. Cf. André Bareau, O Buda. Vida e Ensinamentos, tradução de Maria Bragança, posfácio de Vítor Pomar, Lisboa, Editorial Presença, 2000, pp.62-70.
Cf. Philippe Cornu, “interdépendance (origines interdépendantes, production conditionnée)”, Dictionnaire Encyclopédique du Bouddhisme, pp.258-261.
Sobre a distinção entre ensinamentos definitivos e interpretáveis cf., por exemplo, Dalai Lama, Estágios da Meditação, tradução de Paulo Borges, revisão de Conceição Gomes, Lisboa, Âncora Editora, 2001, pp.90-92.
“Soûtra de la Pousse de riz”, traduzido do tibetano por Philippe Cornu, in Soûtra du Diamant et autres soûtras de la Voie médiane, traduções do tibetano por Philippe Cornu, do chinês e do sânscrito por Patrick Carré, Fayard, 2001, p. 98.
Ibid., p.111.
Ibid., pp.105-106.
Ibid., pp.107-108.









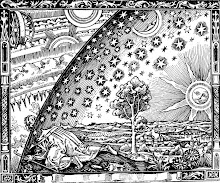

























































Nenhum comentário:
Postar um comentário