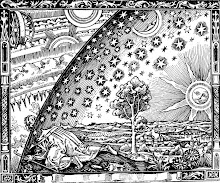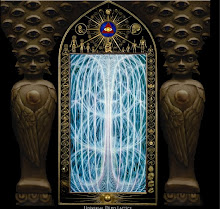A fluidez das sociedades contemporâneas, intrinsecamente destituídas de limites, provoca modificações das estruturas, suscetíveis de colocar em causa a possibilidade mesma de estruturação, até mesmo da existência do eu. Indaga-se, aqui, se as maneiras – mais fundamentalmente a capacidade de sentir –, declinaram "em se sentir", separadas doravante do fato de experimentar sentimentos, não seriam agora sinônimo de sensação.
Palavras-chave: Indivíduo, sentido, sentimento.
ABSTRACT
The fluidity of the contemporary society, intrinsically destituted by limitations, induces structural modifications, susceptible of putting in grounds the same possibility of structuralization, even so at the existence of the I. It is questioned here if the reasons – most fundamentally the capacity of feeling – declined to "feeling", separated from the experimentation of feeling, wouldn't them be, now, synonym of sensation.
Keywords: Individual, sense, feeling.
"Quando nos preocupamos, como eu há meio século, com o problema da relação entre indivíduo e sociedade, revela-se de forma evidente que esta relação não é fixa." (N. ELIAS, La société des individus )
Em 1938, Mauss publica "Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a noção de 'eu'", texto fundador, que foi lido, comentado e criticado e fomentou numerosos outros escritos.
1
Marcel Mauss
Interessado na história social da "noção de pessoa e da noção de eu", Mauss formulou o problema em toda sua extensão, mas de forma muitas vezes imprecisa, intuitiva – será criticado por isso –, e profundamente estimulante.
Escreve:
"Desculpem-me se, resumindo certo número de pesquisas pessoais e inúmeras opiniões de que podemos traçar a história, adianto mais idéias do que provas [...]. É evidente, sobretudo para nós, que jamais existiu um ser humano que não tenha tido o sentido não apenas do seu corpo, mas também de sua individualidade ao mesmo tempo espiritual e corporal." (MAUSS, 1950/1983, p.359)
2
Mauss afirma que "a noção de pessoa, longe de ser uma idéia primordial, inata e claramente inscrita [...] no mais profundo de nosso ser, [...] é ainda hoje imprecisa, necessitando de maior elaboração, [que] ela se constrói lentamente, se clarificando, se especificando, se identificando com o conhecimento de si, com a consciência psicológica [...]" E prossegue, formulando um questionamento extremamente contemporâneo: "Quem sabe se esta 'categoria' que todos acreditamos fundada será sempre reconhecida como tal?" (1950, p.359/362).
Uma observação preliminar: neste texto não distinguiremos o eu das noções de pessoa, personalidade, caráter, indivíduo, individualidade. Todos estes termos referem-se a um mesmo campo paradigmático, relativamente impreciso e movediço, conforme encontramos em vários autores, por exemplo (para citar apenas alguns) em Mauss (1950/1983), Durkheim (1894/1988), Simmel (1908/1999) ou Elias (1987/1991).
3
O que interessa aqui é a existência de um desengajamento, fato sublinhado de forma reiterada em relação às sociedades contemporâneas: levanto a hipótese de que este desengajamento – este descompromisso resultante das sensações contínuas exercidas sobre o eu – influencia profundamente e de maneira insidiosa as relações entre sensação, percepção, consciência, reflexão e sentimentos, levando ao esmaecimento das fronteiras entre objetos materiais reais e imagens virtuais. Desengajamento este que toca os limites do eu,
4 com efeitos sobre as maneiras de sentir e sobretudo sobre a capacidade mesma de sentir.
5
As sociedades contemporâneas, sob o impacto da globalização, tendem a se tornar sociedades que se transformam de maneira contínua, sociedades flexíveis, sem fronteiras e sem limites, sociedades fluidas, sociedades líquidas. Essas condições têm conseqüências sobre os traços de personalidade que estimulam, desde os mais contingentes e superficiais aos mais profundos, os tipos de personalidade que permitem sejam desenvolvidos, e mesmo encorajados, e finalmente sobre a natureza das relações entre os indivíduos.
6
A fluidez intrinsecamente destituída de limites acarreta modificações nas estruturas, sendo suscetível de colocar em questão a possibilidade de estruturação e mesmo de existência do eu.
7
Pode-se pensar imerso na fluidez, sob a pressão permanente e ininterrupta do fluxo? O indivíduo hipermoderno pode, privado de tempo, da duração exigida pelos sentimentos, experimentar outra coisa além de sensações?
Pretendo aqui discutir certos traços de personalidade do indivíduo contemporâneo – ligados e mesmo atribuídos à flexibilidade e à fluidez – através das maneiras de ser, de se comportar e, também, ainda que esta seja uma questão problemática, das maneiras de sentir, de exprimir e da capacidade mesma de vivenciar sentimentos.
8
Retomo, nessa perspectiva, uma hipótese conjetural difícil de discutir, aquela que Lasch (1979/2000), entre outros, que fala do declínio dos sentimentos, de uma dificuldade e, mesmo, de uma relativa incapacidade de experimentar sentimentos nas formas extremas de individualismo, nas sociedades narcisistas.

Christopher Lasch
É oportuno, portanto, que nos detenhamos tanto nos escritos de Durkheim como nos de Simmel para recolocar questões que dizem respeito às categorias, às classificações, às próprias condições de observação nas sociedades contemporâneas: essas sociedades conhecem uma sobreposição de referências, uma tendência à confusão, ao esmaecimento das fronteiras do íntimo, do privado e do público e, de maneira geral, uma psicologização das relações (HAROCHE, 2001).
Durkheim, ao estabelecer que "a condição de toda objetividade é a existência de um ponto de referência, constante e idêntico, ao qual a representação pode ser reportada e que permite eliminar tudo o que ela tem de variável, partindo do subjetivo" (1894/1988, p.137), nos deixa apreender a extraordinária dificuldade das condições de observação das sociedades contemporâneas: o variável, que era para Durkheim próprio da subjetividade, tornou-se uma dimensão específica das sociedades contemporâneas em seu conjunto. A variabilidade confunde-se, hoje, com a flexibilidade, levando pouco a pouco à fluidez.
Mas, quando Durkheim enuncia as condições liminares, indispensáveis à observação, nos possibilita compreender que, face à aceleração e fluidez dos mecanismos nas sociedades contemporâneas, a possibilidade mesma de observação é colocada em causa: "se os únicos pontos de referência dados são eles mesmos variáveis – escreve –, se são continuamente diversos em relação a si mesmos, toda medida comum está ausente e não temos nenhum meio de distinguir em nossas impressões o que depende do exterior e o que vem de nós" (1894/1988, p.137).
Preocupado com o equilíbrio nós-eu, com a interação e com o sentimento 'do eu' que aí se exprime, Simmel (1908/1999) coloca, ao descrever os processos presentes na modernidade, um conjunto de questões desenvolvidas igualmente por Elias e Fromm. Percebendo na fluidez um estado estrutural fundamental, mas algo limitado, um estado comensurável, Simmel nos permite entender alguns dos elementos essenciais dos processos em ação na fluidez ulterior das sociedades contemporâneas. Reconhece a existência de uma imprecisão das interações devido ao seu caráter intrinsecamente instável. Coloca que as interações oscilam entre a continuidade e a descontinuidade, a certeza e a incerteza e, através do conceito de interação, questiona a suposta nitidez presente na fronteira entre indivíduo e sociedade. Simmel (1908/1999) releva o movimento incessante, a mobilidade permanente, restritos à esfera do indivíduo, anunciando assim as questões mais atuais das sociedades contemporâneas: as que se referem aos limites, às fronteiras, às capacidades e atributos, aos traços característicos do indivíduo.

George Simmel
Valendo-se da noção de interação, Simmel (1908/1999) enfatiza algo de essencial no que se refere ao vínculo social, sua permanência ou declínio, e também quanto os modelos de comportamento, a forma como se estruturam e influenciam os sentimentos. Sublinha aquilo com que os sociólogos pouco se preocuparam: a natureza, a fraqueza ou intensidade dos vínculos, a qualidade das interações, apontando que ela é função da duração: é a duração que permite medir sua qualidade.
9
Simmel (1998) toma o exemplo da fidelidade, vendo-a mais como um efeito dos modos de vida, das maneiras de ser do que como a conseqüência de elementos originais e indizíveis: assim nos leva a concluir que são os comportamentos que, por seu turno, provocam os sentimentos.
10Necessário se faz, portanto, pensar o que acontece com a qualidade das interações quando a flexibilidade e a fluidez dos sistemas econômicos contemporâneos impõem o imediatismo, o instantâneo nas relações, deixando de lado a eventualidade a até a capacidade de engajamento e de inscrição no tempo.
11
No final dos anos 1980, Elias resume e formula com concisão extrema todo um conjunto de itens antes abordado por Mauss e por Simmel e que permanece problemático: a questão do equilíbrio nós-eu, da pertença, dos vínculos entre comunidade e sociedade, da alternância entre os processos de integração e de desintegração, a questão da instabilidade. Sintetiza os questionamentos atuais sobre a gênese e a definição problemática de indivíduo, percebendo alguns dos problemas maiores da contemporaneidade. Reiteradamente insiste na necessidade de se superar a idéia de uma oposição entre "indivíduo" e "sociedade".

Norbert Elias
Escreve: "Neste século XX, tudo leva a pensar que não se trata de um problema pontual e individual, mas [...] de um traço fundamental da estrutura da personalidade social dos indivíduos da época mais recente." Acrescentando: "...a tônica do vínculo modificou-se de forma decisiva com a modificação estrutural mais profunda da relação do indivíduo com todas as formas de grupo sociais" (ELIAS, 1987/1991, p.208, 261, 262, 263),
Elias retraça e explica a gênese, as origens de uma insegurança psíquica profunda, seus efeitos sobre as estruturas da personalidade social dos indivíduos. Insiste sobre a auto-reflexividade contínua, que nasce das relações não permanentes, "a grande variabilidade das relações entre os indivíduos", o que "os força constantemente [...] a um exame de suas relações que é ao mesmo tempo um exame de si mesmo" (ELIAS, 1987/1991, p.264). Traz à tona os processos, as estruturas, mas também os efeitos psicológicos que provocam.
Em Fear of freedom (O medo à liberdade), Fromm (1972) se debruça precisamente sobre estes efeitos psicológicos, elaborando reflexões que permanecem decisivas sobre os traços de personalidade, de caráter, os modelos de comportamento encorajados por um tipo específico de sociedade. (FROMM, 1994).
12

Erich Fromm
Enquanto Elias (1987/1991) preocupa-se essencialmente com o domínio e controle dos afetos, Fromm, ao focar os processos subjacentes na emergência do indivíduo, situa-se de certa forma como pioneiro: sua atenção se volta para a gênese desses afetos – a dúvida, o medo, a ansiedade e o declínio concomitante da espontaneidade dos vínculos.
Posto que a personalidade autoritária é fortemente integrada, são os processos presentes nas estruturas da personalidade autoritária – mais do que os traços de personalidade respectivos – que podem contribuir para a compreensão do indivíduo contemporâneo. A personalidade autoritária, assim como a personalidade contemporânea, ameaça a idéia de individualidade, a autonomia, a singularidade, o não-conformismo e mesmo a própria idéia de personalidade.
Lembrando que a estrutura da sociedade e da personalidade modifica-se profundamente no final da Idade Média, Fromm enfatiza que o indivíduo se libertou dos vínculos pessoais tradicionais de indivíduo a indivíduo: esta emancipação afetará de modo radical a estrutura do caráter.
Fromm (1941/1994) traz assim à tona os processos que levam ao isolamento e à impotência do indivíduo, a falta de proteção das condições novas que provoca efeitos psicológicos maiores: a liberdade do indivíduo faz nascer a dúvida, a incerteza, um sentimento de impotência e de insegurança; esta autonomia acompanha a emergência de um sentimento problemático, complexo e que é fonte de angústia, o sentimento do eu, o medo de perder o eu.
13
Fromm insiste, então, sobre a importância decisiva de se compreender a questão da dúvida, da incerteza, e também os tipos de respostas que lhe foram dadas. O autoritarismo constitui um dos dois mecanismos psíquicos através do qual o homem procura escapar do isolamento e do sentimento de impotência, de confusão engendrados pelo mundo moderno. O outro modo de reação constitui o que Fromm chama de "conformismo compulsivo", que evita o autoritarismo. Ele observa que é o "conformista" e não o autoritário quem tem condições de responder às necessidades das sociedades industriais avançadas (FROMM, 1941/1994).
Este conformismo, em nosso ponto de vista, ainda que interiorizando o autoritarismo sob formas particularmente insidiosas, pode muito bem integrar o movimento e a atividade incessante e compulsiva, encarnando-se nos tipos de personalidade contemporâneos.
Alguns trabalhos recentes – consagrados sobretudo à família, às telas, à Internet, ao trabalho, à psicologia contemporânea e, de maneira mais geral, aos efeitos do mercado e da globalização sobre o indivíduo – centraram-se na questão do eu, do indivíduo, da personalidade, do caráter contemporâneo: Lasch (1979/2000 e 1984), Turckle (1995), assim como Castel (2001), Haroche (2003), Enriquez (1991, 2002), Sennet (1998, 2000), Bauman (1999, 2001), Gauchet (1998) e Kauffman (2001, 2002, 2003) interessaram-se pela personalidade contemporânea, pela maneira de ser um indivíduo nas formas extremas do individualismo contemporâneo. Atentos a diferentes dimensões, eles se detiveram sobre os traços de comportamento e de caráter específicos, tais como a indiferença, o desinteresse, o desengajamento, a falta de elã, a ausência de espontaneidade, o cálculo permanente, a instrumentalização de si e do outro, os comportamentos fugidios, o desvencilhar-se.
Lasch (1979/2000) atribui as modificações conhecidas pelo indivíduo contemporâneo à evolução da família. A família burguesa, observa, citando Horkheimer (1972), "tinha como função fabricar um certo tipo de personalidade, um tipo de caráter autoritário" (LASCH, 1979/2000, p.91), mas hoje a família educa, constrói um tipo de personalidade radicalmente diferente, um tipo de personalidade descomprometida, adaptada à flexibilidade, sem engajamento com a duração. Lasch sublinha que os pais se abstêm hoje em dia de inculcar em seus filhos preceitos e normas inúteis em um mundo em constante transformação; a família, portanto, forma o indivíduo para vínculos que não engajem: "a flexibilidade na educação tornou-se uma necessidade absoluta" (1979/2000, p.134-141).
Sherry Turckle (1995), em trabalhos que incidem sobre os efeitos produzidos na identidade pela presença contínua das telas, interessou-se pela flexibilidade e a fragmentação do eu. Chama a atenção para a profunda evolução ocorrida entre o período em que falávamos de "forjar a personalidade", considerada como um todo, e o presente, quando não cessamos de construir e reconstruir identidades múltiplas, o que leva a um tipo de personalidade flexível. Corroborando, de certa maneira, o que dizia Lasch, Turckle enfatiza aquilo sobre o qual insistirá também Sennet: "a estabilidade era outrora social e culturalmente valorizada (...). O que é agora decisivo é a flexibilidade, a capacidade de adaptação e de mudança", privilegiadas em detrimento da estabilidade, considerada como rígida (TURCKLE, 1995, p.255).
Estudando a questão do trabalho, Sennet percebe uma "erosão do caráter" que leva à flexibilidade do sistema. Vê na idéia de "carreira", atualmente abandonada em proveito do job, a encarnação desta flexibilidade. Sennet lembra, então, que no inglês do século XIV "um job era um fragmento ou um pedaço de qualquer coisa", o que é traduzido no presente pelo caráter descontínuo, a atividade fragmentada e fracionada – psiquicamente fragmentária – do trabalho" (SENNET, 1998).
14
Sennet se questiona sobre como "preservar aquilo que tem um valor durável em uma sociedade [...] que se interessa apenas pelo imediato?" (1998, p.11). Interroga-se, também, quanto a "como cultivar engajamentos a longo termo no seio de instituições que são constantemente deslocadas ou perpetuamente reelaboradas?" (1998, p.11). O fluxo contínuo, provocando efeitos de alienação profunda e destruição do eu, leva Sennet a insistir sobre a necessidade de se "salvar o sentimento de si do fluxo sensorial" (1998, p.61).
15
Gauchet (1992), desenvolvendo trabalhos próximos aos de Lasch e Sennet e vendo no "desengajamento da pessoa" um fenômeno inédito, esboçou um quadro de conjunto da psicologia contemporânea, no qual observa o desaparecimento da distância na relação com o outro e na relação consigo mesmo, uma "aderência a si", que se transforma em traço característico da personalidade contemporânea. Desenha, então, um modelo de personalidade paradoxalmente irrefletida e imersa na auto-reflexividade permanente, na qual "ser eu mesmo" não significa mais "saber o que leva a agir com vontade e liberdade interior", não é estar paralisado mas poder movimentar-se, deslocar-se constantemente (GAUCHET, 1992, p.177).
O movimento contínuo entrava a possibilidade de reflexão, a eventualidade de uma hesitação, a possibilidade de distanciamento, os processos de elaboração das percepções a partir das sensações. A personalidade hipermoderna aparece como sendo sem engajamentos – o indivíduo está "ligado, mas distante". Experimenta "a necessidade da presença dos outros, mas afastado desses outros" (GAUCHET, 1992, p.179), abstratos, inconsistentes, permutáveis, inexistentes. Sem continuidade, sem aspirações afirmadas na duração, desengajado, o indivíduo hipermoderno, "na aderência a si" e no deslocamento incessante, consegue ser ele mesmo apenas "na medida que pode se desprender de todo modelo ou adesão qualquer que seja" (p.179). Ele se comunica ou se vincula apenas sob o modo da prudência, do controle de si, da dominação: "ele se afirma não ao se comprometer", observa ainda, "mas ao se destacar" (GAUCHET, 1992, p.172).
16
Bauman (2001) vai enfatizar, em termos similares, um desengajamento análogo nos comportamentos, vendo na mobilidade, no deslocamento incessante, a quintessência do poder nas sociedades contemporâneas.

Z. Baumann
Descrevendo a atmosfera do funcionário e seu modo de vida, o trabalho, a cidade, Bauman percebe que "nada permanece parecido, imutável, durante muito tempo, nada dura o suficiente para se tornar familiar, acolhedor e tranqüilo" (BAUMAN, 2001, p.46), nada responde às aspirações de vínculo e à necessidade de pertencimento. As lojas desaparecem, os rostos atrás dos balcões não cessam de mudar. Em resumo, observa Bauman, esmaece, desaparece "tudo o que é contínuo, estável e sólido [...] o que sugeria a existência de um quadro social durável, seguro, pacífico e pacificador. Esmaece, ainda, a certeza de poder se rever regularmente, com freqüência e durante muito tempo" (BAUMAN, 2001, p.47).
Todas essas observações constituem, pode-se dizer, "os fundamentos epistemológicos da experiência da comunidade. Ficamos tentados a dizer de uma comunidade estreitamente unida" (BAUMAN, 2001, p.47). É tal experiência que agora faz falta, é sua ausência que explica o declínio da comunidade: a falta de expectativas, de elãs; os vínculos da comunidade tornaram-se pouco a pouco consumíveis, "perecíveis" (2001, p.48).
Dick Pountain e David Robins pensam que o descomprometimento, o desengajamento, o frio, definem no presente o espírito do tempo. "Cool significa a capacidade de fugir, de escapar dos sentimentos, de viver em um mundo fácil, que questiona e recusa os vínculos possessivos" (BAUMAN, 2001, p.51-52).
17Os engajamentos duráveis, que constroem vínculos, em que a individualidade é valorizada pela exigência, foram substituídos por encontros breves, banais e intercambiáveis, encontros em que as relações começam tão rápido quanto terminam.
Os vínculos são mais frágeis e efêmeros. Hoje, o estar junto tende a ser breve, de curta duração e desprovido de projetos: o desengajamento aparece assim como um novo modo de poder e dominação. O comportamento das elites aparece imediata e fundamentalmente como "a capacidade de escapar da comunidade" (BAUMAN, 2001, p.57).
Em artigo recente, Dany Robert Dufour (2003) chama a atenção para a existência de uma estupefação profunda e mesmo de um niilismo, explicados pela aceleração da difusão do modelo de mercado. Ao descrever os processos presentes no niilismo contemporâneo que respondem a imperativos econômicos funcionais, Dufour esclarece as razões da fluidez fundamental das sociedades de mercado contemporâneas, quando se necessita de "tudo menos do que se possa entravar a circulação das mercadorias" (2003, 168), assim como seus efeitos psicológicos sobre o indivíduo, "efeitos desestruturantes que provocam uma profunda redefinição da forma moderna do sujeito" (2003, p.163).
Dufour afirma que o mercado esforça-se em suprimir as resistências do sujeito, as hesitações, as indecisões, as reflexões: "o mercado acomoda-se mal com um traço específico da forma sujeito", observa, "o livre-arbítrio crítico que leva, com efeito, a discutir tudo, a constantemente retardar a decisão de compra". O mercado procura "suprimir os vínculos, os elos, os sentimentos que não podem ser convertidos em valores mercantis": o mercado procura, assim, estimular continuamente as sensações para desenvolver o consumo e dispor, como diz Dufour, "de indivíduos definidos por nada além do que a necessidade de consumo sempre ampliada" (2003, p.170).
18
Lasch falou do "porto" que significa a família para os indivíduos isolados em um mundo indiferente, sem coração, um mundo duro e frio. Elias, de forma mais genérica, discutiu a "necessidade elementar de calor direto e de espontaneidade que todo indivíduo experimenta e suas relações com os outros".
19
Ora, a fluidez isola, entrava e evita os vínculos, os elos e os elãs: tende a produzir vínculos formais e superficiais, um falso vínculo e, até mesmo, a ausência de vínculo; ela se acompanha do medo do vínculo, dos outros.
20
Penso ser relevante, então, que nos interroguemos sobre a imbricação, o papel respectivo das sensações e dos sentimentos no indivíduo contemporâneo; é importante que retomemos os questionamentos gerais presentes em trabalhos seminais, tanto em filosofia política e sociologia quanto em psicologia social: obras que questionaram a maneira como exprimimos os sentimentos, os momentos, a qualidade e a natureza daquilo que exprimimos e, também, daquilo que – deliberada ou involuntariamente – não exprimimos, aquilo que calamos ou recalcamos de maneira permanente e, além disso, obras que pensaram sobre a ausência e mesmo a incapacidade de vivenciar sentimentos espontâneos.
21
Mauss, em texto de 1921 dedicado à "expressão obrigatória dos sentimentos", esboçou questões que se colocam hoje com insistência. Urge que o retomemos, pois sua leitura permite repensar a questão da pessoa e as maneiras de ser e de sentir do indivíduo contemporâneo (1950/1983).
22
Observava então Mauss:
"Toda espécie de expressão oral dos sentimentos [...] é em essência não um fenômeno exclusivamente psicológico, ou fisiológico, mas fenômenos sociais, marcados eminentemente pelo signo da não espontaneidade e da mais perfeita obrigação" (1950/1983, p.269). Se Mauss admitia que os ritos mais simples que estudara "não têm um caráter completamente público e social", notava, no entanto, que "lhes falta em alto grau todo caráter de expressão individual do sentimento experimentado de forma puramente individual" (1950/1983, p.272).
Afastando a questão da espontaneidade individual, Mauss abordou os sentimentos através de modelos, de rituais, da ritualização dos sentimentos, sublinhando que "é preciso que eles sejam ditos, mas se é preciso dizê-los é porque todo o grupo os compreende" (1950/1983, p.277). Insistiu, assim, que "fazemos, portanto, mais do que manifestar nossos sentimentos, nós os manifestamos aos outros, pois é preciso manifestá-los. Manifestamos a nós mesmos exprimindo-os aos outros e em virtude dos outros" (1950/1983, p.278). Este é o sentido que apreendeu das convenções e regularidades que despertavam sua atenção.
Faz-se necessário agora abordar o estudo dos sentimentos pelo viés da relação ao tempo e buscar pensar as duas dimensões presentes na ritualização dos sentimentos: a ausência de duração e a ausência de sentido. A falta de tempo precede atualmente a expressão dos sentimentos? Fato desconcertante para nossa maneira de conceber os sentimentos como pertencendo à esfera do irracional e mesmo do indizível: a inteligibilidade, a perda do sentido na relação consigo e com o outro revela um entrave, um declínio e mesmo uma incapacidade não tanto de exprimir sentimentos, mas de experimentá-los, de senti-los?
Pode-se conceber e imaginar uma sociedade sem afetos, sem sentimentos; não se pode concebê-la sem rituais discerníveis, inteligíveis, reconhecidos.
A capacidade de sentir estaria declinando nas formas extremas de individualismo? A ininteligibilidade provocada pelas sensações contínuas teria ao mesmo tempo afastado a expressão dos sentimentos em relação aos outros e a si mesmo, a capacidade de vivenciar sentimentos? O sentir tenderia hoje a se atrelar e a se confundir com a sensação, o fluxo? Sentir pode ainda ser considerado como sendo da ordem do sentido e do sentimento inscrito na duração? São questões que, de meu ponto de vista, se situam no cerne da problemática do indivíduo hipermoderno.
REFERÊNCIAS
ADORNO, T. & HORKHEIMER, M. (1944/2000) "La production industrielle des biens culturels" in La dialectique de la raison. Paris: Tel Gallimard.
ANSART, P. (2002) Le ressentiment. Bruxelas: Bruylant.
ANZIEU, D. (1985) Le moi peau. Paris: Dunod.
________. et al. (1993) Les contenants de pensée. Paris: Dunod.
ARENDT, H. (1951/1972) Les origines du totalitarisme. Le système totalitaire. Paris: Seuil.
BALANDIER, G. (1994) Le dedale. Paris: Fayard.
BAUMAN, Z. (1995) Life in fragments: Essays in Postmodern Morality. Oxford: Blackwell.
________. (1998) Globalization: The human consequences. Oxford: Polity Press and Blackwell.
________. (1999) Le coût humain de la mondialisation. Paris: Hachette Littératures.
________. (2000) Liquid Modernity. Oxford: Polity Press.
________. (2001) Community. Seeking safety in an insecure world. Oxford: Polity Press.
CARRITHERS, M.; COLLINS, S.; LUKES, S. (orgs.) (1985) The category of the person. Anthropology, philosophy, history. Cambridge: Cambridge University Press.
CASTEL, R. & HAROCHE, C. (2001) Propriété privée, propriété social, propriété de soi. Paris: Fayard.
________. (2003) L'insecurité sociale. Paris: Seuil.
CASTORIADIS, C. (1990) Le monde morcelé. Paris: Seuil.
________. (1996) La montée de l'insignifiance. Paris: Seuil.
________. (1997) Fait et à faire. Paris: Seuil.
DUARTE, A.; LOPREATO, C. & MAGALHÃES, M. (orgs.) (2004) "Reflexões sobre a personalidade democrática", in A banalização da violência: a atualidade do pensamento de Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Relume Dumará.
DUFOUR, D.R. (2003) "Vers un nouveau nihilisme?", Le débat, jan-fev, n. 123.
DUMONT, L. "A modified view of our origins: the Christian beginnings of modern individualism", in CARRITHERS, M.; COLLINS, S. & LUKES, S. (1985) The category of the person. Anthropology, philosophy, history. Cambridge: Cambridge University Press.
DURKHEIM, E. (1894/1988) Les règles de la méthode sociologique. Paris: Flammarion.
EDELMAN, B. (1999) La personne em danger. Paris: PUF.
ELIAS, N. (1987/1991) "L'équilibre nous-je", in La société des individus. Paris: Fayard.
ENRIQUEZ, E. (1991) Les figures du maître. Paris: Arcantère.
________. (2002) La face obscure des démocraties modernes. Toulouse: Erès.
FREUD, S. (1921/1981) "Psychologie des foules et analyse du moi", in Essais de psychanalyse. Paris: Payot.
________. (1923/1989) "Le moi et le çà".
FROMM, E. (1972) Medo à liberdade. 8ª ed. Rio de Janeiro: Zahar.
________. (1941/1994) Escape from Freedom. EUA: Owl Book, Henry Holt and Company.
GAUCHET, M. (1992) "Un réflexologue inconnu: Valéry", in L'inconscient cerebral. Paris: Seuil.
________. (1998) "Essai de psychologie contemporaine", Le débat, n. 99.
________. (2003) La condition historique (entretiens avec F. Azouvi et Sylvain Piron). Paris: Stock.
GODELIER (1996/2003) L'énigme du don. Paris: Flammarion.
HAROCHE, C. (2001) "Des formes et des manières en démocratie", in Raisons politiques. Paris: Presses de Science Pol, fev-avril, n.1.
________. (2002) "Eléments d'une anthropologie politique du ressentiment. Genèse des sentiments dans les processus de frustration et de refoulement", in Le ressentiment (ANSART, P. 2002). Bruxelas: Bruylant.
HORKHEIMER, M. (1936/1972) "Authority and the family" réed, in Critical Theory, Selected Essays. Londres: Verso.
JANET, P. (1889/1989) L'automatisme psychologique. Paris: Alcan.
KAUFFMAN, J.-C. (2001) Ego. Pour une sociologie de l'individu. Paris: Nathan.
________. (2002) "L'expression de soi", Le débat, mar-abr, n.119.
________. (2003) "Tout dire de soi, tout montrer", Le débat.
LASCH, C. (1979/2000) La culture du narcissisme. La vie américaine à une age de déclin des esperances. Paris: Climats.
________. (1984) The minimal self. Psychic survival in trouble times. New York: W.W. Norton and Co.
LOCKE, J. (1690/2001) Essai sur l'entendement humain. Livres I et II. Paris: Vrin.
MAUSS, M. (1950/1983) Sociologie et anthropologie. 8 ed. Paris: PUF.
MARX, K. (1844/1996) Les manuscrits de jeuness. Paris: Garnier Flammarion.
________. (1859/1985) Le Capital, livre premier. Paris: Champs Flammarion.
POLANYI, K. (1944/1983) La grande transformation, aux origines politiques et économiques de notre temps. Paris: Gallimard.
REICH, W. (1933/1998) La Psychologie de masse du fascisme. Paris: Payot.
SENNET, R. (1998) The corrosion of character. The personnal consequences of work in the new capitalism. New York: W.W. Norton & Co.
________. (2000) Le travail sans qualité, Les conséquences humaines de la flexibilité. Paris: Albin Michel.
SIMMEL, G. (1908/1999) Sociologie. Etudes sur les formes de la socialisation. Paris: PUF.
________. (1998) "La fidélité. Essai de socio-psychologie in: La parure et autres essais. Paris: Editions de La Maison de Sciences de l'Homme.
STUART MILL, J. (1859/1999) De la liberte. Paris: Folio Gallimard.
TAYLOR, C. (1985) "The person" in CARRITHERS, M. COLLINS, S. e LUKES, S. The category of the person. Anthropology, philosophy, history. Cambridge: Cambridge University Press.
TURCKLE, S. (1995) Life and the screen. Identity in the age of the internet. New York: Simon and Schuster.
Tradução da autora
Notas
1 Dentre os textos que lhe foram dedicados, destacamos: Carrithers, Collins e Lukes (org.) (1985), sobretudo os artigos de Louis Dumont, "A modified view of our origins: the Christian beginnings of modern individualism", p.93-123, e de Charles Taylor, "The person", p.257-282.
2 Estas questões são retomadas, desenvolvidas e comentadas em Collins e Lukes (1985). Lukes sublinha que é preciso talvez reconhecer aí uma "estrutura de sentimento", uma "atitude geral" ou, ainda, um tipo de crença "que perdura em diferentes formas culturais" (p.285). Carrithers, frisando que Mauss "deixa de lado tudo o que está ligado ao eu, à personalidade consciente enquanto tal", observa que no texto de Mauss "apenas o legal, o social ou ainda o político importa, pouco contam o psíquico ou o filosófico". E acrescenta: "o eu é colocado em aposição à pessoa [...] como se para as sociedades ocidentais modernas fossem a mesma coisa". Na verdade, observa, Mauss coloca que "pessoa = eu, e que o eu equivale à consciência" e que o fato de a "pessoa ter uma história social e legal não tem nada de surpreendente: a história social e legal é precisamente o que permite a especificidade da pessoa" (p.234-236).
3 A respeito do eu, do sentimento de si, ver Freud (1921/1981, 1923/1981) e Janet (1889/1989). Observa-se que, em Mauss (1950/1983), palavras referentes à pessoa aparecem vinculadas à família, enquanto que Elias (1987/1991) privilegiará o indivíduo.
4. Sobre as relações entre sensação, percepção e idéias, ver Locke (1690/2001). A obra trata de questões ligadas àquelas que Durkheim abordará mais tarde: a necessidade de que a ciência "afastando as noções comuns e as palavras que as exprimem, retorne à sensação, matéria-prima e necessária de todos os conceitos. É da sensação que provém todas as idéias gerais, verdadeiras ou falsas, científicas ou gerais" (DURKHEIM, 1894/1988, p.136). Sobre as relações entre reflexão e reflexo, ver Gauchet (1992), que cita e comenta uma passagem de Valéry sobre o ato reflexo: "a divisão e a distribuição dos atos-acontecimentos que estão em jogo na transformação [dos] atos reflexos ou automáticos em atos refletidos", acrescentando que o "ato reflexo é indivisível - e realizado exteriormente antes que se possa pará-lo. [...] O ato refletido [...] é um reflexo retardado - presumido - que uma sensibilidade especial - que tem ou não o tempo de intervir - reprime, equilibra ou sustenta". Gauchet retém a conclusão de Valéry: "o estado nascente do refletido é reflexo" (GAUCHET, 1992, p.162-163).
5 Tomo emprestado de Durkheim a expressão "maneiras de ser e de sentir": "as maneiras de agir, de pensar e de sentir que apresentam a notável propriedade de existirem fora das consciências individuais" (1894/1988, p.96).
6 A propósito da análise das sociedades contemporâneas, ver os trabalhos de Balandier, sobretudo Le dedale (1994). Sobre a questão do desengajamento nas sociedades contemporâneas, ver Bauman (1998, 1999).
7 A propósito da formação e mecanismos do eu, ver Anzieu (1985), Anzieu et al. (1993), Bauman (2000).
8 O caráter extremamente complexo da questão refere-se ao fato de podermos experimentar sentimentos e exprimi-los, podermos nada exprimir e nada vivenciar, podermos ainda vivenciar sentimentos sem exprimi-los, podermos também exprimir sentimentos sem vivenciá-los. Durkheim observou que "nem Locke, nem Condillac consideraram os fenômenos psíquicos objetivamente. [...] Eis a razão por que, ainda que em certos aspectos tenham preparado o advento da psicologia científica, ela nasceu apenas muito mais tarde, quando enfim se chegou à concepção de que os estados de consciência podem e devem ser considerados do exterior e não do ponto de vista da consciência que os experimenta" (1894/1988, p.123). Para uma primeira aproximação do estudo dos sentimentos, ver o conjunto das contribuições de Le ressentiment, organizado por Ansart (2002), particularmente Haroche em "Eléments d'une anthropologie politique du ressentiment. Genèse des sentiments dans les processus de frustration et de refoulement". Ver, também, "Reflexões sobre a personalidade democrática", in Duarte, Lopreato e Magalhães (orgs.) (2004).
9 Ver, também, "La fidélité. Essai de socio-psychologie" (SIMMEL, 1998).
10 Cf. Simmel (1998) e Haroche (2001).
11 Ver, sobre esta questão, Bauman (1995).
12 Ver também Reich (1933); Adorno e Horkheimer (1944); Polanyi (1944/1983). Mais recentemente, Castoriadis (1990, 1996, 1997).
13 Precisando os efeitos da emancipação evocados por Fromm, Elias (1987/1991) vai enfatizar que o indivíduo era ou devia ser autônomo. "O termo 'indivíduo' tem hoje essencialmente por função exprimir que toda pessoa humana, em todas as partes do mundo, é ou deve ser um ser autônomo que comanda sua própria vida e, ao mesmo tempo, que toda pessoa humana é em certos aspectos diferente de todas as outras, ou, talvez, deveria sê-lo. Realidade fatual e postulado confundem-se com facilidaade quando empregamos esta palavra" (p.208).
14 De acordo com Sennet (1998): "Em suas origens inglesas, a palavra 'carrière' designava uma estrada para os carros (carriages); aplicada finalmente ao trabalho, designava a via pela qual se seguia a vida em seus propósitos econômicos" (p.9).
15 O eu estaria conhecendo no presente um momento inédito de alienação. Conforme Marx (1844/1996, 1859/1985).
16 Gauchet (2003) enfatizou recentemente que "nos encontramos face a indivíduos que querem [...] existir por si mesmos, mas não pertencer" (p.334).
17 D. Pountain, D. Robins to cool to care, citado por Bauman (2001, p.51-52).
18 O que se traduz nas observações de Kauffman (2001), que percebe uma mutação antropológica profunda que concerne ao eu, a busca permanente de visibilidade de si, a produção mesma do eu na visibilidade e quantidade: "a identidade, outrora outorgada pelo lugar social, deve agora ser produzida em uma quantidade tão grande quanto possível, ampliada em seu ser pelas imagens e outros traços de si" (p.123).
19 Existem limites à variação para que a pessoa permaneça a pessoa? São necessários limites - leis, regras, normas - para que as pessoas sejam protegidas e, mais do que isso, para que possam existir. Cf. Edelman (1999).
21 Sobre a importância da espontaneidade, ver Stuart Mill (1859/1999); Arendt (1951/1972). Sobre o recalque, ver Ansart (2002); Godelier (1996/2003).
22 Cf. "L'expression obligatoire des sentiments (rituels oraux funéraires australiens)", de 1921.