O mundo contemporâneo não mais pode ser apropriado de maneira fragmentária, pois os problemas do cotidiano são apresentados de maneira “híbrida”. Torna-se assim necessário estabelecer uma síntese teórica que nos possibilite analisar a realidade de maneira simultaneamente científica, sociológica e por meio da teoria da linguagem. Esse é o ponto de partida de “Jamais Fomos Modernos”, de Bruno Latour.
Para Latour, há que se identificar uma “crise da crítica” contemporânea, que acabou por produzir uma crise de propostas e o fim das utopias: nenhuma teoria é hoje capaz de restabelecer a unidade do pensamento que dê conta dos problemas cotidianos e que possa apontar para o futuro.
Para o autor, o ano de 1989 (“o miraculoso ano”) pode ser considerado um divisor de águas, pois, ao mesmo tempo em que o mundo via submergir a utopia socialista, dava-se nascimento às preocupações globais com a ecologia, pondo-se um limite claro à ciência e à técnica.
“Após essa dupla digressão cheia de boas intenções, nós, os modernos, aparentemente perdemos a confiança em nós mesmos.” (p.14)
É nesse mundo de incertezas que a crise da crítica pode ser delineada, pois até então os críticos haviam desenvolvido três repertórios distintos para falarem de nosso mundo: a naturalização, a socialização e a desconstrução, personificadas, para Latour, por três autores: Changeux, Bourdieu e Derrida. Entretanto, se cada uma dessas modalidades de crítica é potente em si mesma, não podem ser combinadas com as outras.
Para Latour, o mundo deve ser tratado como um conjunto de “redes” que atravessam esses três paradigmas - “objetivista”, “sociologizante” e “semiótico” - pois, não sendo apenas de natureza objetiva, social ou discursiva, são ao mesmo tempo reais, coletivas e discursivas. (p. 12)
“Os fatos científicos são construídos, mas não podem ser reduzidos ao social porque ele está povoado por objetos mobilizados para construí-lo. O agente desta construção provém de um conjunto de práticas que a noção de desconstrução capta da pior maneira possível.” (p.12)
Assim, para Latour, a modernidade se caracteriza por essa postura crítica e, ao mesmo tempo, limitada e incapaz de oferecer uma síntese teórica que abra horizontes para o nascimento de uma nova utopia.
E é aqui que o autor se detém para tentar caracterizar, a seu modo, o que é a modernidade ocidental, qual o seu traço singularizante e cujo desenvolvimento culmina com o fim das utopias e com uma crise ambiental que puseram em questão, simultaneamente, a técnica e ciências naturais e a filosofia.
Para Latour, o cerne da “modernidade” diz respeito a dois conjuntos de práticas que, para permanecerem eficazes, devem permanecer distintas, mas que recentemente deixaram de sê-lo:
a) um conjunto de práticas que cria “híbridos”, ou seja, misturas de natureza e cultura. São aquilo que o autor denomina de “redes”, conectando, por exemplo, técnica e estratégia científica e industrial e suscitando preocupações interdisciplinares;
b) outro conjunto, de natureza crítica ou analítica - “purificação”, na linguagem do autor - que cria duas zonas ontológicas distintas: a dos humanos e a dos não-humanos. Esse conjunto seria o responsável por estabelecer uma partição entre o mundo natural, uma sociedade com interesses e questões previsíveis e estáveis e um discurso independente de ambos.
Assim, Latour salienta que a modernidade se caracteriza por manter essas práticas separadamente, dedicando-se à crítica que, entretanto, se desenvolve por meio da proliferação dos “híbridos”. (p.16)
A modernidade, para Latour, seria uma espécie de adesão ideológica a essa separação, tornando-se necessária sua superação: a partir do momento em que nos desviamos do trabalho de purificação e de hibridação, transformaremos a abordagem relativista e mudaremos nossa visão acerca da dominação, do imperialismo, do sincretismo etc.
Assim, o projeto de Latour diz respeito a uma mudança de paradigma: tratar-se-ia de superar a distinção ontológica entre humanos e não-humanos que é o que singulariza, em última instância, a modernidade.
Para Latour, a manutenção da referido distinção ontológica - que permite a separação das análises cientificistas, sociológicas e semióticas - produz uma indefinida “proliferação dos híbridos”. Portanto, enquanto não superarmos a distinção cultura/natureza, humano/não-humano, nossas atividades serão uma contínua construção de problemas e situações interpretados como possuindo natureza científica, política, social, econômica, ideológica etc.
Para Latour, as sociedades “pré-modernas” não permitem a proliferação de “híbridos”, pois não concebem o mundo dentro dessa separação. É essa distinção entre culturas que realizam a referida separação ontológica e as que não realizam (“modernos” e “não-modernos”) que permitiria explicar e resolver a questão do relativismo.
Enfim, o projeto de Latour assemelha-se a uma tentativa de desmistificação - por meio da revelação ou “desfetichização” - acerca do processo de separação ontológica. Elucidando-se o processo, seríamos capazes de deter a “proliferação dos monstros”. (p. 17)
“Do momento em que traçamos este espaço simétrico, restabelecendo o entendimento comum que organiza a separação dos poderes naturais e políticos, deixamos de ser modernos.”
Caberia à antropologia restabelecer essa simetria, descrevendo como se organiza e se produz essa separação, como os ramos se separam, assim como os múltiplos arranjos que os reúnem.
“O etnólogo do nosso mundo deve colocar-se no ponto comum, onde se dividem os papéis, as ações, as competências que irão permitir certa entidade como animal ou material, uma outra como sujeito de direito, outra como dotada de consciência, ou maquinal e outra como inconsciente ou incapaz. Ele deve até mesmo comparar as formas sempre diferentes de definir ou não a matéria, o direito, a consciência, a alma dos animais sem partir da metafísica moderna.” (p. 21)
Ou seja, trata-se de desvendar, “desmistificar”, a separação, construída a partir do século XVII, entre o mundo das representações científicas e o mundo das representações políticas, cujo início se encontra, no texto de Latour, na polêmica travada entre Boyle e Hobbes:
“ Eles [Boyle e Hobbes] inventaram nosso mundo moderno, um mundo no qual a representação das coisas através do laboratório encontra-se para sempre dissociada da representação dos cidadãos através do contrato social. (...) Os dois ramos do governo elaborados por Boyle e Hobbes só possuem autoridade quando claramente separados.(...) Cabe à ciência a representação dos não-humanos, mas lhe é proibida qualquer possibilidade de apelo à política; cabe à política a representação dos cidadãos, mas lhe é proibida qualquer relação com os não-humanos produzidos e mobilizados pela ciência e tecnologia.” (p.33-34)
Assim, Latour argumenta que da mesma forma que a teoria política alçou o soberano como “representante” (ou “porta-voz”) dos indivíduos representados, também a epistemologia entronizou a idéia de que os cientistas são os legítimos intérpretes (ou “representantes”) dos fatos naturais:
“Os porta-vozes políticos irão representar a multidão implicante e calculadora dos cidadãos; os porta-vozes científicos irão de agora em diante representar a multidão muda e material dos objetos. Os primeiros traduzem aqueles que os enviam, que são mudos de nascimento. Os primeiros podem trair, os segundos, também.” (p. 34-35)
Dessa forma, o mundo moderno se assentaria num conjunto de quatro princípios, chamados pelo autor de “Constituição”:
1. ainda que sejamos nós que construímos a natureza, ela funciona como se nós não a construíssemos;
2. ainda que não sejamos nós que construímos a sociedade, ela funciona como se nós a construíssemos;
3. a natureza e a sociedade devem permanecer absolutamente distintas; o trabalho de “purificação” deve permanecer absolutamente distinto do trabalho de “mediação”;
4. Deus fica afastado da “esfera pública”, passando a ser um questão de foro íntimo.
Por meio desse conjunto, é possível alternar-se as fontes de poder, ao passar, sem dificuldades, da pura força natural para a força política e vice-versa. Impede-se qualquer contaminação entre aquilo que pertence à natureza e aquilo que pertence à política.
“O ponto essencial dessa Constituição moderna é o de tornar invisível, impensável, irrepresentável o trabalho de mediação que constrói os híbridos.” (p.40)
Poderíamos dizer: a modernidade repousa na representação de que o mundo, embora híbrido, como todos os “coletivos”, tem essa característica negada.
Como em Weber - que tratou longamente acerca das distintas esferas de ação social, cada qual dotada de “legalidade própria” - também para Latour:
“estes recursos pareciam estar separados, em conflito uns com os outros, misturando ramos do governo que se degladiavam, cada um deles apelando a fundamentos distintos.” (p.44)
É esta concepção que libera uma “esfera de ação” das amarras da outra que possibilitou aos modernos “sentirem-se livres para não mais seguir as restrições ridículas de seu passado que exigia que pessoas e coisas fossem levadas em conta ao mesmo tempo.” (p.44)
Latour, entretanto, salienta que, embora a ideologia (a “Constituição”) enuncie a separação, ela obscurece o fato real de que a mistura entre humanos e não-humanos continuou a se processar em escala jamais vista. E, de fato, por ter obscurecido isso é que os “híbridos” proliferaram com vigor ainda maior.
“Aquilo que os pré-modernos sempre proibiram a si mesmos, nós podemos nos permitir, já que nunca há uma correspondência direta entre a ordem social e a ordem natural.(...) A amplitude da mobilização é diretamente proporcional à impossibilidade de pensar diretamente suas relações com a ordem social. (...) Quanto mais a ciência é absolutamente pura, mais se encontra intimamente ligada à construção da sociedade. ” (p.47)
Para Latour, a modernidade assume a condição de uma “ilusão”, pois se é verdade que tanto o enunciado hegemônico - a ciência positivista, a teoria política clássica etc - quanto a crítica que a ele se faz (o pós-modernismo, o desconstrucionismo etc) se encontram de acordo com os princípios básicos da “Constituição”, também é verdade que no mundo dos fatos, das práticas (“práxis”) e do ato (no sentido lacaniano) o resíduo sempre constituiu a maior parte, aquilo que não era admitido, não absorvido ou sequer enunciado. Por isso Latour afirma:
“Mas os híbridos, os monstros, os mistos cuja explicação ela abandona são quase tudo, compõem não apenas nossos coletivos mas também os outros, abusivamente chamados de pré-modernos.”
A solução, para Latour, consiste em seguir, ao mesmo tempo, a “Constituição” e aquilo que ela proíbe ou permite, estudar de perto o trabalho de produção de “híbridos” e o trabalho de eliminação desses híbridos.
“É um não moderno todo aquele que levar em conta ao mesmo tempo a Constituição dos modernos e os agrupamentos de híbridos que ela nega.” (p. 51)
Esse é, para Latour, o papel que cabe à antropologia simétrica. E, para levar adiante seu projeto, ela deve eliminar os cortes epistemológicos que possibilitam distinguir as ciências “sancionadas” e as ciências “proscritas”, as divisões artificiais entre as sociologias do conhecimento, das crenças e das ciências. Ou seja, o antropólogo “simétrico” das sociedades modernas não deverá basear-se na separação criada por sua própria cultura, mas deverá tomar aquilo que a ciência considera “verdadeiro” e aquilo que ela considera “falso” nos mesmos termos. Isso é possível porque a distinção daquilo que é verdadeiro daquilo que é falso é uma construção histórica, cultural, não emergindo naturalmente dos fatos, como quer a “Constituição”.
“Natureza e sociedade não oferecem nenhuma base sólida sobre a qual possamos assentar nossas interpretações. (...) A aparente explicação que dela provém só aparece posteriormente, quando os quase-objetos estabilizados transformaram-se, após a clivagem, em objetos da realidade exterior, por um lado, e sujeitos da sociedade, de outro.” (p. 95)
O antropólogo deve, ainda, situar-se no “ponto médio”, onde possa acompanhar ao mesmo tempo a atribuição de propriedades não humanas e propriedades humanas. O que, segundo o autor, permitiria superar também a cisão entre o Ocidente e as demais culturas (“Nós” e “Eles”), pois essa cisão se assentaria na divisão interna realizada pela ciência entre humanos e não-humanos: são “Outras” todas as culturas “pré-modernas” que não aceitam a referida divisão. Por desqualificar as demais culturas pelos erros na apreensão do real, a ciência constrói a separação entre “Nós” - detentores do instrumental adequado para apreender a realidade e manipulá-la por meio da técnica - e “Eles”.
Para que a antropologia possa dar conta do mundo contemporâneo, deverá, assim, construir uma nova abordagem, que
“suspenda toda e qualquer afirmação a respeito daquilo que distinguiria os ocidentais do Outro (...) [Isso] lhe permitirá estudar o dispositivo central de todos os coletivos, até mesmo os nossos. A análise das redes estende a mão à antropologia e lhe oferece a posição central que havia preparado para ela.” (p. 102)
Ou seja, pela abordagem proposta, diluem-se os próprios conceitos de natureza e cultura, permanecendo apenas uma pluralidade de conjuntos “homogêneos” natureza-cultura, que poderão ser então comparados (a comparação entre os “coletivos”, na linguagem de Latour, que compreendem tanto o que chamamos “cultura”, como também aquilo que denominamos “natureza”; tanto os humanos, como os não-humanos), tarefa essa que cabe à antropologia simétrica.
“A partir do momento em que levamos em conta tanto as práticas de mediação quanto as práticas de purificação, percebemos que nem bem os modernos separam os humanos dos não-humanos, nem bem os “outros” superpõem totalmente os signos e as coisas.” (p.102)
Daí a crítica de Latour ao relativismo:
“ Os relativistas jamais foram convincentes quanto à igualdade das culturas, uma vez que consideram apenas estas últimas. E a natureza ? De acordo com eles, ela é a mesma para todos, uma vez que a ciência universal a define.(...) É tão impossível universalizar a natureza quanto reduzi-la à perspectiva restrita do relativismo cultural.” (p. 104)
Entretanto, assevera Latour, essa constatação ainda não permite dar conta do que diferencia o Ocidente das demais “natureza-cultura” (ou “coletivos”) pois há uma inegável diferença de amplitude de mobilização que é ao mesmo tempo a conseqüência do modernismo e a causa de seu fim. Ressaltando esse aspecto e chamando essa questão para o campo de interesse da antropologia simétrica, Latour pretende que esta possa também contribuir para elucidar o processo de dominação de um coletivo sobre o outro (no caso, o Ocidental sobre todos os demais).
“Ainda que sejam semelhantes pela coprodução, todos os coletivos diferem pelo tamanho.” (p. 105)
Assim, Latour salienta que as diferenças entre os “coletivos” são de tamanho e de corte e tanto o relativismo erra ao tentar ignorar esse fato, como erra também o universalismo, ao tentar transformar isso em uma “Grande Divisão”.
“Todos os coletivos se parecem, a não ser por sua dimensão.(...) As ciências e as técnicas não são notáveis por serem verdadeiras ou eficazes, mas sim porque multiplicam os não-humanos envolvidos na construção dos coletivos e porque tornam mais íntima a comunidade que formamos com estes seres.” (p.106)
Assim, para Latour, é a capacidade de mobilização de recursos e de criar novas necessidades e novos “híbridos” que torna “notável” as ciências e as técnicas ocidentais e que culmina na imposição de seus modelos a outros “coletivos”.
Encontramos aqui um ponto de intersecção com aquilo que Jean Baudrillard denominou de “selva dos objetos” (Baudrillard, 2000): nunca na história conhecida, o homem cercou-se de tal quantidade e diversidade de objetos, constituindo, eles próprios, uma “natureza paralela” e auto-referencial. Essa característica, notada por vários autores, é aqui retomada na análise de Bruno Latour para destacar a singularidade do Ocidente.
“Trata-se de construir os próprios coletivos em escalas cada vez maiores. É verdade que há diferenças de tamanho. Não há diferenças de natureza – menos ainda de cultura.” (p.107)
Entretanto, a diferença de perspectivas entre esses autores existe e poderia ser traduzida por meio da seguinte indagação:
Subsiste, para Latour, diferenças essenciais entre a interação humano/humano e humano/não-humano? Isso porque os coletivos não diferem essencialmente, mas apenas em sua capacidade (“tamanho”) de mobilização; além disso, devemos recusar o estatuto privilegiado das técnicas e ciências ocidentais.
De igual forma, a separação humanos/não-humanos, recusada pelos “coletivos pré-modernos”, deve também ser abraçada pela antropologia simétrica em sua análise da modernidade, de modo a produzir uma interpretação acerca da ruptura humanos/não-humanos como um mero atributo da “Constituição” moderna, passível de dissolução, tal qual uma formulação ideológica que, esclarecida, tende a se dissolver.
O autor propõe, então, que se elimine a diferença ontológica entre humanos e não-humanos, o que nos leva a supor que Latour também aceitaria como verdadeira a formulação segundo a qual não há diferença ontológica entre as interações humanos/humanos e as relações humanos/não-humanos.
Sendo isso correto, poderíamos avançar, formulando uma segunda indagação: um mundo inteiramente “artificial”, inteiramente construído pelos homens, seria, do ponto de vista da “cultura”, ontologicamente indistinto de um mundo onde as relações com seres não construídos pelo homem é mais intensa ?
Ou, invertendo a indagação, a hipótese que apresentamos é que, para Latour, um mundo inteiramente construído – um mundo inteiramente povoado por bens etc – seria ontologicamente semelhante a um mundo “natural”. E, assim, os híbridos são naturalizados na mesma proporção em que a natureza é “socializada” – ou, ainda, as coisas são antropomorfizadas:
“Como poderíamos desencantar o mundo, se nossos laboratórios e fábricas criam a cada dia centenas de híbridos, ainda mais estranhos que os anteriores, para povoá-lo?” (p. 113)
Sendo assim, poderíamos ousar e irmos mais adiante: não estaria Latour desprezando inteiramente os problemas de auto-referenciamento que a produção de bens e a imersão do homem em um mundo não-natural produzem ? Não estaria aqui correndo o risco de levar o processo de “fetichização/reificação/coisificação” a uma altura ainda maior, talvez por ter aberto mão de qualquer referência matafísica?
Bibliografia
· Baudrillard, Jean. A Sociedade de Consumo.Ediçoes 70. 2000.
· Latour, Bruno. Jamais Fomos Modernos. Editora 34. 1994.











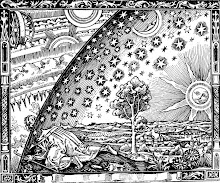

























































4 comentários:
Muito bons os comentários! Para tentar resolver parte dos questionamentos que você colocou no final do seu texto Bruno Latour escreveu um livro chamado "A Esperança de Pandora", talvez você tenha bons momentos com esse livro.
Ola Gabriel, obrigado por seu interesse e participação !
Na verdade, acabei revendo alguns de meus posicionamentos sobre o Latour.
Embora não seja um profundo conhecedor de sua obra - e corrija-me se estiver enganado - creio que as proposições desse autor são de um radicalismo que talvez tenha me escapado à época.
(Devo esse meu reposicionamento, em parte, a discussões com a dona do Blog Epifenomenologia)
Segundo esse meu novo entendimento, se encararmos sofás, cadeiras, automóveis etc como seres "ontologicamente"iguais aos seres "naturais", estaríamos imersos numa grande rede social e simplesmente não mais veríamos sofás, cadeiras e automóveis como tais e, consequentemente, sequer abriríamos a possibilidade de produzí-los.
A palavra ontologia aqui é usada abusivamente, pois aqui, sabemos, há uma espécie de dissolução da ontologia em favor de conceitos mais "deleuzianos"...
Isso é uma espécie de implosão do discurso fetichista.
Não sei se me fiz entender, mas há aqui um radicalismo e uma profundidade maiores (e continuo achando que a obra de Eduardo Viveiros de Castro explora e dá continuidade a esse aspecto deleuziano-latouriano).
Valeu a dica de leitura, há tempos estou atrás de um livro do Latour que atualize suas idéias.
Abs !
Olá Jholland,
Me desculpe, tinha perdido o seu blog de vista! Compartilho de suas inquietações.
Creio que o problema todo seja a questão da ontologia...
Quando separamos em ontologia (natureza do ser) e epistemologia (possibilidade do conhecimento da natureza do ser) tem-se uma separação entre sujeito e objeto que coloca o homem em um nível ontológico superior. Muitos autores, como Latour, optam por uma ontologia plana mais ou menos como propõe DeLanda (explicitado aqui por Levi Bryant http://larvalsubjects.wordpress.com/2010/02/24/flat-ontology-2/). Viver em um mesmo plano ontológico não é sinônimo de igualdade! Um homem e um sofá não são iguais, mas compartilham o mesmo mundo! Significa apenas que não há razão para que eventos mentais da consciência humana sejam tratados diferentemente de qualquer outro tipo de evento; eles são parte do mesmo fluxo de experiências (SHAVIRO, 2009, p.31)
Autores como Alfred Whitehead (matemático e filósofo inglês falecido em 1947) entendem o homem não como posicionado em uma dimensão ontológica distinta das demais coisas do mundo, essa diferença se dá em termos de grau e não de natureza. Para Whitehead (que tem inspirado bastante os escritos de Latour, Isabelle Stengers, Steven Shaviro e inspirou o geógrafo brasileiro Milton Santos) não há vantagem ontológica alguma no ser humano, pois todos o elementos tem o poder de afetar e serem afetados. Isso não quer dizer que não existam diferenças entre eles, mas o sujeito da ação não precede a relação. Não existe um sujeito à priori ou uma natureza permanente do sujeito. Tal natureza se faz na ação relacional. Ou como afirma Milton Santos (2006:84 ) “A tese de Whitehead supõe, desse modo, a reunião in dissociável de objetos e eventos. É o seu processo de interação, num mesmo movimento, que cria e recria o espaço e o tempo. Para ele, ‘os objetos somente estão no espaço e no tempo por causa de suas relações com os eventos’”. Nesse sentido toda e qualquer ontologia seria um processo, um evento e não uma natureza em si. As coisas igualmente existem no mundo mas não existem de maneira igual, como define Ian Bogost (http://www.bogost.com/blog/materialisms.shtml). Os seres humanos não podem ser reduzidos às coisas em nem as coisas aos seres humanos - isso não quer dizer que humanos e coisas existam em universos ontologicamente distintos. O abismo entre coisas e humanos não é tão grande assim: humanos são feitos por coisas e coisas são feitos por humanos. O ser humano também é um processo histórico, não estamos acabados, o que é considerado um ser humano ou não depende de muitos fatores historicamente situados.
Dessa maneira, alguns teóricos não admitem tal ontologia plana. Tal abordagem tem seus pontos fracos e é criticada. Uma das acusações é que se incorre em uma antropomorfização das coisas atribuindo característica humanas a objetos inertes ou mesmo animais. Por outro lado, e de maneira curiosa, o movimento de antropomorfizar as coisas parece ser uma sólida maneira de combater determinados aspectos de um antropocentrismo que limita a nossa noção de social e agenciamentos possíveis... é o que eu acho no momento...
Abração!
ótima postagem!Me ajudou muito nos meus estudos. Uma dica a você; se você mudar as cores de sua página ajudará muito os leitores, como é um texto longo, a cor escura no fundo cansa mais rápido a visão e dificulta a leitura. Se mudares só vai ganhar com isso, lembre-se que o objetivo é antes de tudo levar informação aos olhos curiosos dos leitores. Você vai ganhar muito mais visitas, que retornarão. Obrigado!
Postar um comentário