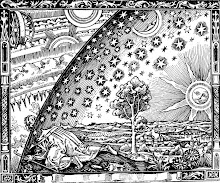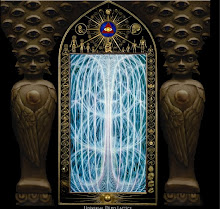O MEDO COMO ORIGEM DA RAZÃO EM ADORNO E HORKHEIMER: o papel de Nietzsche na Dialética do Esclarecimento
Por: Márcio Benchimol Barros
(Professor de Filosofia da Unesp de Araraquara)
Assim como Habermas em O Discurso Filosófico da Modernidade, também Albrecht Wellmer em seu artigo Adorno, Advogado do não-Idêntico [1] interpreta a Dialética do Esclarecimento de Adorno e Horkheimer como um empreendimento filosófico ao mesmo tempo corajoso e arriscado no qual de pontos-de-vista anti-iluministas de determinados pensadores seriam utilizados criticamente no sentido de uma radicalização do esclarecimento, agora voltado sobre si mesmo. Asim, filosofias que a tradição marxista costumava considerar como exemplos do conservadorismo e decadência burgueses são integradas em uma continuação do próprio impulso da crítica ideológica de inspiração marxista. Em especial, ambos procuram demonstrar a influência de Nietzsche na elaboração da obra.
Habermas e Wellmer também estão de acordo quanto ao que constitui o essencial desta influência: a tese do entrosamento profundo entre razão e dominação, pensado não como meramente exterior ou contingente, mas como constitutivo da razão. Habermas, no texto citado, aponta Nietzsche como o precursor desta tese, a qual conduziria à destruição de todas as possibilidades de distinção entre pretensões de validade e pretensões de poder. Por seu turno, Wellmer considera a identificação entre razão e dominação na Dialética do Esclarecimento como resultado de uma leitura de Marx por Adorno e Horkheimer através da ótica de uma crítica do conhecimento,...com os olhos de Nietzsche e Kant.., bem como de uma leitura materialista de Kant [2]. Wellmer chama a atenção para a origem nietzscheana da …tese central de Adorno e Horkheimer, a tese da unidade da racionalidades formal e instrumental no pensamento conceitual… [3], a qual permitiria a referida leitura de Marx.
Tendo em vista a utilização que faremos, no decorrer do texto, das noções de racionalidade formal e racionalidade instrumental, tais como são conceituadas por Wellmer, reproduzimos abaixo as descrições de ambas presentes em Adorno, Advogado do não-Idêntico:
A racionalidade formal se exterioriza como impulso à constituição de contextos de saberes, explicações e atividades sistematicamente unificados e isentos de contradição. [4]
Já a racionalidade instrumental é descrita no seguinte período:
A tese propriamente forte de Adorno e Horkheimer, porém, é a de que a racionalidade formal é, em última análise, equivalente (gleichbedeutend) à racionalidade instrumental, ou seja, equivalente a uma racionalidade “coisificante” ("verdinglichende"), cuja meta é o controle de processos naturais e sociais. [5]
A atenção e profundidade com que Habermas e Wellmer tratam a tese de Adorno e Horkheimer a respeito do que constitui a essência do esclarecimento – a saber, a dominação – tem entretanto como contrapartida o fato de que ambos deixem intacta a tese apresentada pelos autores acerca da origem do esclarecimento.
Essa origem, como também da própria razão, é indicada claramente já na frase inicial do texto O Conceito de Esclarecimento:
No sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e investi-lo na posição de senhores [6].
O esclarecimento tem origem no sentimento do medo, e como reação a este sentimento. Seu objetivo primordial é antes de tudo livrar os homens do medo. É, de fato, apenas como meio que a dominação também aparece nesta sentença de abertura, da qual o seguinte trecho pode ser lido como uma confirmação e um desenvolvimento:
Do medo o homem presume estar livre quando não há mais nada de desconhecido. É isso que determina o trajeto da desmitologização e do esclarecimento, que identifica o animado ao inanimado, assim como o mito identifica o inanimado ao animado. O esclarecimento é a radicalização da angústia mítica. A pura imanência do positivismo, seu derradeiro produto, nada mais é que um tabu, por assim dizer, universal. Nada mais pode ficar de fora, porque a simples idéia do "fora" é a verdadeira fonte da angústia... [7]
Aqui, não somente a eliminação do medo aparece como determinante de toda a trajetória do esclarecimento, mas o esclarecimento, é, ele mesmo, identificado ao medo [8] . O sentido desta última formulação, mais forte que as anteriores, é o de que o esclarecimento, mesmo em sua forma mais acabada, continua sendo resultado e expressão do medo, sendo exatamente este o motivo pelo qual ele jamais chega a atingir seu objetivo.
Ora, a tese que faz do medo a origem do pensar racional nos parece revelar um outro aspecto da influência nitzscheana na Dialética do Esclarecimento, o qual não foi desenvolvido por Habermas e Wellmer. No que se segue, procuraremos explicitar os motivos pelos quais nos acreditamos autorizados a levantar tal hipótese.
Comecemos pois por perguntar qual o sentido do conceito de medo tal como ele aparece em Dialética do Esclarecimento. Um sentido certamente presente neste conceito é o do medo ante a todos aqueles processos e forças naturais – seja antropomorfizados pelo animismo, seja apreendidos pelo pensamento científico esclarecido – que permanecem ainda não dominados, incontroláveis e imprevisíveis. O medo diante de tudo o que ainda não se curvou ao domínio técnico do homem e que o faz, por isso mesmo, sentir-se indefeso, pois se apresenta como ameaça à conservação da vida humana em geral. É como reação a este sentimento que Adorno e Horkheimer procuram estabelecer a gênese e a necessidade de uma racionalidade instrumental voltada para a dominação da natureza.
Quanto ao problema da gênese do aspecto formal da razão no pensamento de Adorno e Horkheimer, vimos que Wellmer procura compreender o impulso à construção de sistemas unitários e internamente consistentes como decorrente do caráter instrumental da racionalidade. A tese que lhe permite estabelecer tal dependência é aquela na qual a Dialética do Esclarecimento atribui já ao próprio conceito uma natureza instrumental, tese essa na qual Wellmer identifica uma origem nitzscheana [9].
Assim, unindo a argumentação de Wellmer à tese do medo como origem da razão, chagaríamos à seguinte explicação para o surgimento da racionalidade formal: O medo às forças hostis da natureza torna necessária a dominação; esta necessidade, por seu turno, gera o conceito como instrumento de dominação; e o princípio da não contradição, contido na essência do pensar conceitual, engendra o impulso à lógica e à sistematização.
Embora não haja como discutir a pertinência da análise de Wellmer a este respeito, acreditamos poder encontrar na Dialética do Esclarecimento uma segunda componente do conceito de medo a partir da qual é possível pensar de uma maneira alternativa, na referida obra, a gênese da racionalidade formal. Esta segunda via não está, como se verá, em contradição com aquela exposta acima, mas possui para nós o interesse especial de pôr em relevo aquele aspecto da influência nietzscheana na Dialética do Esclarecimento que estamos procurando indicar.
A componente do conceito de medo à qual nos referimos se encontra apresentada no seguinte trecho:
...Concretiza-se assim o mais antigo medo, o medo da perda do próprio nome. Para a civilização, a vida no estado natural puro, a vida animal e vegetativa, constituía o perigo absoluto. Um após o outro, os comportamentos mimético, mítico e metafísico foram considerados como eras superadas, de tal sorte que a idéia de recair neles era associada ao pavor de que o eu revertesse à mera natureza, da qual se havia alienado com esforço indizível e que por isso mesmo infundia nele indizível terror [10].
Trata-se aqui não mais do medo do indivíduo ante ao que ameaça a sua sobrevivência, mas do medo da dissolução dos limites da individualidade, da identificação imediata com a natureza e da regressão a estágios mais primitivos, o qual é exponenciado pela poderosa sedução que esta mesma identificação com a natureza representa para o indivíduo:
O esforço para manter a coesão do ego marca-o em todas as suas fases, e a tentação de perdê-lo jamais deixou de acompanhar a determinação cega de conservá-lo… O medo de perder o eu e o de suprimir com o eu o limite entre si mesmo e a outra vida … está irmanado a uma promessa de felicidade, que ameaçava a cada instante a civilização [11].
Este mesmo medo está presente em muitas das interpretações dadas pela Dialética do Esclarecimento paras as aventuras de Ulisses. A sedução das sereias, dizem os autores, é a de se deixar perder no que passou [12], e quem prova da comida dos lotófagos, sucumbe como os que escutam as sereias ou como os que foram tocados pela varinha de Circe...A única ameaça é o esquecimento e a destruição da vontade [13]. Depois de ter logrado Polifemo, Ulisses precisa declarar seu nome e sua origem ao ciclope, pois teme que, por ter-se declarado ninguém, volte a ser ninguém caso não restaure sua identidade [14]. A magia de Circe …desintegra o eu que volta a cair em seu poder e assim se vê rebaixado a uma espécie biológica mais antiga [15].
Neste ponto, a linha de nossa argumentação impõe-nos uma dupla tarefa: é preciso, por um lado, explicitar que relação pode haver entre o medo da dissolução da individualidade e o surgimento de uma racionalidade formal; e, por outro, indicar de que maneira tal relação pode ser índice de influência nietzscheana na Dialética do Esclarecimento.
Ora, não vemos melhor caminho para o cumprimento destes objetivos do que recordarmos as teses de O Nascimento da Tragédia, nas quais a tendência lógica e sistemática se encontra paradigmaticamente relacionada ao medo da supressão da distância entre indivíduo e natureza.
 Nietzsche, por Munch
Nietzsche, por MunchEm sua primeira obra, com efeito, Nietzsche faz o êxtase dionisíaco consistir na anulação dos limites da individualidade e na identificação imediata com a natureza. O supremo prazer provocado por esta identificação e a irresistível sedução que ela por isso mesmo exerce constituem temível ameaça ao princípio de individuação (principium individuationis), entendido – em uma variação da reinterpretação schopenhaueriana deste terminus escolástico – como o impulso fundamental pelo qual a vida tende a abandonar sua unidade primordial para fixar-se em unidades viventes mais ou menos estáveis e permanentes, ou seja, em indivíduos. O pavor experimentado pelo indivíduo ante a eminência da dissolução dos limites que o separam da natureza e a revelação extática da unidade profunda de todos os viventes não é senão a expressão da profunda contradição existente entre a tendência dionisíaca e aquele princípio vital essencial.
É esta contradição o que termina por gerar aquela poderosa força cultural que conhecemos como espírito apolíneo, o qual, como expressão do principio de individuação na cultura, destina-se a conter o avanço da tendência dionisíaca. Em O Nascimento da Tragédia podemos acompanhar como o impulso apolíneo helênico, a fim de alcançar este objetivo, cria a mitologia grega, com todo o seu panteão de divindades olímpicas, e a arte escultórica clássica, na qual estas divindades são representadas; vemos ainda como faz vir à luz o esplendor da arquitetura dórica e finalmente o drama clássico, que, irmanado à música dionisíaca, instaura finalmente na Tragédia ática um equilíbrio de forças entre Apolo e Dionísio.
Mas este equilíbrio acaba por revelar-se precário e momentâneo, pois ainda quando a Tragédia vivia seu auge, o princípio de individuação – abandonando o âmbito apolíneo, no interior do qual se movera até então – obtém, por meio da filosofia socrático-platônica, a vitória final sobre a tendência dionisíaca. É esta filosofia que entroniza pela primeira vez o conceito, a lógica e o impulso à construção de sistemas, inaugurando assim o espírito científico, nova força cultural que haveria de dominar os rumos da civilização ocidental. A partir de então a sobriedade da razão e a exigência de absoluta coerência interna, clareza e transparência de um pensar que busca constantemente a mais perfeita auto-consciência são os elementos que banirão definitivamente as tendências extáticas e orgiásticas do horizonte grego, velando assim pela estrita observância dos limites entre indivíduo e natureza.
Ora, se nos dispomos a traçar uma analogia entre a descrição nietzscheana da atuação do princípio de individuação na cultura – através do espírito apolíneo e da tendência socrática-científica – e a imagem da evolução do esclarecimento traçada por Adorno e Horkheimer certamente teremos ocasião de perceber alguns claros pontos de contato. Pois o processo pelo qual o indivíduo se emancipou da natureza, e com isso forjou para si uma identidade rígida e unitária é elemento essencial na descrição da trajetória do esclarecimento realizada pelos autores frankfurtianos.
De fato, se o conteúdo essencial da mimesis é a identificação com a natureza, o processo pelo qual ela é substituída pela ratio, que é o seu outro, pode ser descrito como o processo de distanciamento do sujeito em relação à natureza. A noção de distanciamento e interposição está implícita na própria noção de instrumento, e portanto, do conceito enquanto instrumento:
É verdade que a representação é só um instrumento. Pensando, os homens distanciam-se da natureza a fim de torná-la presente de modo a ser dominada…Pois o pensamento se torna ilusório sempre que tenta renegar sua função separadora, de distanciamento e objetivação [16].
Este distanciamento é descrito por Adorno e Horkheimer como o processo no qual simultâneamente a natureza é liberada de toda antropomorfização mítica e o sujeito de tudo o que ele tem de natureza. O esclarecimento, ao mesmo tempo em que elimina a identificação mítica do inanimado ao animado, identifica o animado ao inanimado, de onde resulta a atrofia tanto do sujeito quanto da natureza:
É à identidade do espírito e a seu correlato, à unidade da natureza, que sucumbem as múltiplas qualidades. A natureza desqualificada torna-se a matéria caótica para uma simples classificação, e o eu todo-poderoso torna-se o mero ter, a identidade abstrata [17].
Como o eu idêntico só se constitui por oposição à natureza da qual ele se distancia, os conceitos de eu e de natureza determinam-se e limitam-se reciprocamente. As exigências de unidade e identidade do sujeito pressupõem que o objeto se submeta também à unidade e à identidade. Ao eu penso transcendental corresponde como seu correlato necessário uma realidade que, segundo a expressão de Wellmer, compõe-se … de fenômenos interligados causalmente segundo leis, e isto quer dizer: uma realidade como objeto de um conhecimento possível das ciências naturais. [18]. Trata-se de uma realidade na qual tudo é a priori passível de ser subsumido pelas categorias fixas do entendimento. Todo ente é exemplar de uma espécie e todo evento é um caso especial e repetição de uma lei eterna.
A conseqüência imediata deste conceito de natureza é o ideal do sistema que procura abranger num todo coerente a extensão inteira da realidade, afirmando ao mesmo tempo a lógica formal como esquema da calculabilidade do mundo:
De antemão o esclarecimento só reconhece como ser e acontecer o que se deixa captar pela unidade. Seu ideal é o sistema do qual se pode deduzir toda e qualquer coisa [19].
Poderíamos então concluir que é a preocupação com preservação da unidade e da identidade do sujeito o que torna indispensável o projeto iluminista do enquadramento de todo o real pelo pensar lógico e sistemático; e é para atingir este objetivo que o esclarecimento instaura um tribunal permanente contra tudo aquilo que parece oferecer resistência a um tal enquadramento. O que não se deixa enquadrar pelo sistema e deduzir pela lógica é aquilo que ainda não caiu sob o poder do pensamento conceitual, e, por isso mesmo, é algo que ainda não se submeteu às condições únicas pelas quais pode haver a separação entre sujeito e objeto. Precisamente isto, o incomensurável, ou, como dirá Adorno posteriormente, o não-idêntico, é o que não pode ser tolerado pelo esclarecimento, pois ele vê aí uma sobrevivência do tempo em que o eu não havia se emancipado da natureza e um sinal de que a emancipação ainda não se completou de todo. Aí o esclarecimento reconhece uma região do espírito esclarecido na qual ainda pode subsistir o medo mais antigo, do qual ele sempre quis livrar os homens, o da confusão entre os limites do individuo e da natureza. O esclarecimento só pode estar seguro de ter vencido definitivamente o medo quando o esquema da deductibilidade universal tiver compreendido sem resto todo o real, e sua grande astúcia é declarar este projeto como já realizado de antemão, pelo menos em potência. Este é o sentido, de acordo com nossa interpretação, das expressões de Adorno e Horkheimer segundo as quais o homem presume estar livre do medo quando não há mais nada de desconhecido, e nada mais pode ficar fora, uma vez que a própria idéia do fora é a verdadeira fonte da angústia. Neste sentido, expressão fora significaria aqui aquela região exterior ao círculo delimitado pelo saber científico esclarecido, a qual o esclarecimento declara nula a priori. E é justamente por ser estabelecida a priori que a pura imanência do positivismo – ou seja, a identificação da realidade com aquilo que pode ser apreendido pela matemática e a eliminação de toda a transcendência – assume o caráter de tabu assinalado por Adorno e Horkheimer.
Se são aceitas as linhas gerais da aproximação por nós intentada entre a Dialética do Esclarecimento e O Nascimento da Tragédia, seria possível estendê-la ainda de modo a estabelecer uma relação entre a tese nietzscheana que faz a criação da mitologia e da religião consistir em uma reação ao perigo representado à civilização pela tendência dionisíaca e a tese frankfurtiana que afirma terem os deuses como nome as vozes petrificadas do medo [20], e, portanto, que aquilo com o que o esclarecimento historicamente se bate já é esclarecimento. Da mesma forma, poder-se-ia ver uma influência nietzscheana na tese segundo a qual o produto derradeiro do esclarecimento, a mimese ao inanimado, é exatamente o oposto do seu objetivo original, ou seja, a preservação da vida. Pois em Nietzsche, de fato, o impulso à lógica e ao conceito, assim como o impulso apolíneo, tem como finalidade tornar possível a vida, na medida em que esta pressupõe a constituição de uma subjetividade idêntica e estável. No entanto, a hipostasiação inexorável deste impulso resulta na atrofia da vida através da anulação paulatina do elemento instintivo dionisíaco, que é o substrato vital dos sujeitos cujas vidas deviam ser preservadas.
Mas faremos mais justiça ao pensamento frankfurtiano se concluirmos estas linhas com a ressalva de que embora seja possível encontrar muitos pontos de contato entre a Dialética do Esclarecimento e a filosofia nietzscheana, não se pode pretender ver na obra de Adorno e Horkheimer uma simples adesão àquela filosofia. A Dialética do Esclarecimento sabe se preservar da sedução nietzscheana e utiliza conscientemente Nietzsche em um esforço de continuação da melhor tradição do materialismo histórico, e na perspectiva do desmascaramento da falsidade contida nas formas de pensamento engendradas pela prática social.
Se muito se pode dizer a respeito da influência de Nietzsche na referida obra, outro tanto se pode afirmar sobre a influência do pensamento marxista, e muito de sua importância se deve à própria originalidade dos autores. E um dos traços mais marcantes desta originalidade é certamente a combinação inusitada e, para muitos improvável, conseguida por eles entre duas das filosofias que mais definiram os caminhos do pensamento no nosso século.
BIBLIOGRAFIA:
Adorno e Horkheimer, Dialética do esclarecimento, Rio de Janeiro, J. Zahar Editor, 1985
Adorno e Horkheimer, Dialektik der Aufklärung. Gesammelte Schriften, Bd.3, Frankfurt, Suhrkamp,1984.
Wellmer, Adorno, Anwalt des Nicht-Identischen, in: Zur Dialektik von Modernen und Post-Modernen, Vernunftkritik nach Adorno, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1885
Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, Berlin- New York, W. de Gruyter, 1972
Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity, Cambridge, Polity Press, 1992
Gagnebin, Jeanne Marie, Do Conceito de Razão em Adorno.