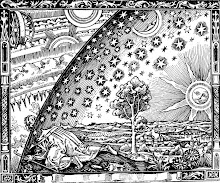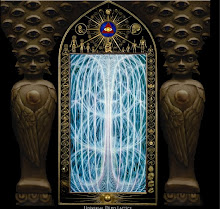Parte V - A Montanha Mágica
A ousada associação entre elementos aparentemente contraditórios faz pensar irresistivelmente em certo jesuíta comunista, fervoroso partidário da revolução proletária e da Igraja Católica e em quem se vê, por vezes, uma alegoria de Lukács, por outras, uma imagem de Ernst Bloch, ou ainda uma síntese sui generis dos dois: "Leon Naphta", a singular criação literária de Thomas Mann em A Montanha Mágica.

Thomas Mann, em 1943
Raramente um personagem romanesco suscitou tão ásperas discussões políticas e controvérsias literárias. Seria ele um fascista, como pretende Lukács, ou um bolchevique fantasiado com uma batina, como o afirma Yvon Bourdet ? Não seria uma personificação do próprio Lukács como o pensam tantos pesquisadores franceses: Maurice Colleville, Pierre-Paul Sagave, Nicolas Baudy e, mais recentemente, Yvon Bourdet ? Em nossa opinião, todas estas diferentes teses e hipóteses contraditórias são, ao mesmo tempo, verdadeiras e falsas. Tentaremos demonstrar porquê.
Segundo Lukács, "o jesuíta Naphta" é pura e simplesmente "o representante dos ideais reacionários e fascistas, das idéias antidemocráticas", ou ainda, "o propagador de um sistema de tendência católica que prefigura o fascismo."(1) Nas proclamações revolucionárias e proletárias reiteradas e incendiárias do intelectual (judeu) Naphta, Lukács não vê mais que demagogia anticapitalista reacionária, característica do fascismo. Ressalta, aliás, a similaridade entre o pensamento mórbido do personagem de A Montanha Mágica e a apologia da enfermidade em Novalis. Consequentemente, para Lukács, o eixo central do romance de Thomas Mann é sem sombra de dúvida, "a luta ideológica entre a vida e a morte, a sanidade e a doença, a reação e a democracia", "a luta das ideologias democráticas e fascistas", respectivamente simbolizadas por Settembrini e Naphta, "para ganhar a alma de um Alemão médio moralmente correto", encarnado prlo personagem de Hans Castorp. Chega até a proclamar a visão profética de Thomas mann que, "aproximadamente dez anos antes da vitória do fascismo", "mostra através da literatura que a demogagia anticapitalista é a maior força de propaganda fascista." (2)
No entanto, Lukács constata que o romance "termina com um resultado nulo"; como explicá-lo, no quadro de sua interpretação ? Ele dá a isso duas razões:
1. Trata-se , da parte de Thomas Mann, "de uma apreciação instintivamente sábia da relação de forças no pós-guerra". Argumento bastante discutível, à medida que este período é precisamente "a idade de outro" da República de Weimar, da social-democracia no poder etc.;
2. Thomas Mann jamais escreveu um "romance de tese" parcial : "forças e fraquezas das duas partes estão perfeitamente dosadas nele (vê de forma particularmente aguda as fraquezas da velha mentalidade da democracia em face dos ataques do anticapitalismo romântico)". Portanto, Lukács é obrigado a reconhecer que, no personagem Naphta, Thomas Mann mostra "o caráter sedutor (inclusive no sentido espiritual e moral) do anticapitalismo romântico" e "os elementos justos de sua crítica da vida atual da sociedade". Mas Lukács persiste em não ver na "sedução" de Naphta mais que "demagogia reacionária", anunciadora do fascismo.

Thomas Mann
É necessário acrescentar que Lukács só vai "descobrir" o fascista oculto sob a máscara refinada e irônica de Leon Naphta em 1942, quando da invasão nazista na URSS...
A ideologia de Naphta deriva efetivamente do "fascismo" ou da "prefiguração do fascismo"? Examinemos de perto uma das principais falas "programáticas" (se se pode dizê-lo assim) do pequeno jesuíta judeu:
"Os Pais da Igreja chamaram "meu" e "teu" de palavras funestas e disseram que a propriedade privada era usurpação e roubo. (...) Eram louváveis a seus olhos o camponês, o artesão, mas não o comerciante, nem o industrial. Pois queriam que a produção se adaptasse à necessidade e tinham horror da produção em grandes quantidades. Ora, todos estes princípios e esta escala de valores econômicos ressuscitaram após séculos no movimento moderno do comunismo. A concordância é completa, até quanto à reinvindicação da sobreania formulada pelo trabalho internacional contra o reino internacional do comércio e da especulação, o proletariado mundial que opõe agora a humanidade e os critérios do reino de Deus à podridão burguesa e capitalista. A ditadura do proletariado, condição de sanidade política e econômica deste tempo, não tem o sentido de uma dominação pela dominação, para toda a eternidade, mas o de uma suspensão momentânea do conflito entre o espírito e o poder, sob o sinal da cruz; o sentido de uma vitória sobre o mundo terrestre através da dominação do mundo; o sentido da transição, da transcendência; o sentido do reino. O proletariado retomou a obra de Gregório, o Grande, renovou em si seu zelo piedoso e, tal qual o santo, não poderá impedir sua mão de derramar sangue. Seu dever é instituir o terror para a salvação do mundo, para atingir aquilo que foi o objetivo do Salvador: a vida em Deus, sem Estados nem classes."
Neste discurso (que o narrador escreve como "contundente") efetivamente encontramos uma estranha combinação de catolicismo e bolchevismo, mas onde está o fascismo ? Que fascista alguma vez se refeiu ao proletariado mundial ? Desde quando o fascismo tem por objetivo político instaurar a ditadura do proletariado como forma de transição para uma sociedade sem Estado nem classe ?
A redução ao fascismo, feita por Lukács, da doutrina estranha e "sedutora" de Naphta, nem sequer é um simplificação; aparece como totalmente inadequada para explicar seu objeto. Isto não quer dizerque não haja um "nó racional" na interpretação lukacsiana: não está totalmente errado considerar o fascismo como um dos desenvolvimentos potenciais do "naphtismo" (se nos for permitido esse neologismo !); mas uma simples leitura em preconceitos dos discursos do personagem judeu-jesuíta-bolchevique de Thomas Mann é suficiente para mostrar a parcialidade da tese de Lukács. Na realidade, o erro de Lukács não pode ser com´reendido fora de sua atitude geral para com a corrente neo-romântica, a partir de 1934, ou seja, depois do traumatismo ideológico que significa para ele o triunfo do fascismo na Alemanha. Retornaremos ao tema.
A outra interpretação é a que vê em Leon naphta uma figura romântica do próprio Lukács e, em geral, uma imagem típica do doutrinário comunista. Examinaremos esta tese em sua última variante, a interessante e estimulante obra de Yvon Bourdet, Figures de Lukács (1972).
Segundo Bourdet, as declarações de Naphta "permitem compreender toda a vida de Lukács e até seus últimos dias"; por outro lado, "os princípios fundamentais de Lukács e de Naphta são idênticos" ! Sempre segundo Bourdet, Thomas Mann traçou em Naphta não apenas a imagem viva de Lukács, mas também "o caráter essencial e altamente significativo do militante leninista".(3)
Naphta não tinha, pois, nada de nazi, nem de romântico; sob uma aparência de jesuíta, seria fundamentalmente comunista, no sentido da III Internacional: "Com uma ironoa profética e uma intuição genial, Thomas mann sabia ver, no militante bolchevique, uma simples reencarnação do homem de Igreja." A tese de Bourdet não está desprovida de pressupostos políticos, como ele mesmo destaca explicitamente, "nosso conceito de Naphta como representante do marxismo bolchevique conduz a considerar o stalinismo como uma continuação coerente do leninismo."
O que pensar desta interpretação que se situa, simetricamente, no pólo oposto à de Lukács ?
Em nossa opinião, não há dúvidas de que Lukács serviu parcialmente de modelo a Thomas Mann para a fabricação de Leon Naphta: a semelhança física entre os dois, o nome - ironicamente trocado por Thomas mann - do proprietário da casa onde Naphta se aloja (o costureiro Lukacek), a coincidência temporal entre o primeiro encontro entre Thomas Mann e Lukács em 1922 e a aparição no penúltimo capítulo do romance, do novo personagem (Cap. VI: "Ainda alguém"), enfim, certas declarações e cartas do autor de A Montanha Mágica, mostram a existência de uma ligação entre o verdadeiro marxista e o jesuíta imaginário.(4)
No entanto, não se pode fazer caso omisso da carta de Thomas Mann a Paul Savage, onde o escritor insiste: "Peço-lhe encarecidamente que não estabeleça relações entre Lukács e A Montanha Mágica, assim como com o personagem Naphta...Personagem e realidade são extremamente diferentes e, sem falar dsas origens e da biografia, a combinação do comunismo e do jesuitismo que criei neste livro, e que intelectualmente talvez não seja assim tão má, não tem nada a ver com o verdadeiro Lukács."
Y. Bourdet minimiza esta carta creditando-a ao "jesuitismo" de Thomas Mann.
 Thomas Mann
Thomas Mann
Tentaremos mostrar mais abaixo porque as notas aparentemente contraditórias do escritor sobre a relação Naphta-Lukács são "complementares" na realidade: Lukács serviu parcialmente de modelo a Naphta, mas o pensamento do jesuíta obscurantista não é, de forma alguma "idêntico" ao do comissário do povo da República Húngara dos Conselhos...
Para provar esta "identidade", Bourdet é obrigado a encontrar um traço de igualdade bastante arbitrário entre o antinaturalismo místico de Naphta e a crítica lukacsiana da dialética da natureza.
Referindo-se à passagem "programática" de Naphta que citamos acima, Yvon Bourdet acredita que ela é a prova que "Thomas Mann não podia fazer mais para adverti-los de que se preocupa muito pouco com os jesuítas e que esse disfarce indica os militantes revolucionários marxistas." O jesuitismo de Naphta será apenas um "disfarce" do "revolucionário marxista" ? Ora, Thomas Mann, na carta a Paul Savage, escreve explicitamente que se trata de uma combinação e não de um mascaramento. Longe de se "preocupar muito pouco com os jesuítas", o escritor insiste sobre o caráter católico e obscurantista se seu personagem, do qual a maior parte dos propósitos não tem grande coisa a ver com o bolchevismo, mesmo "disfarçado". (5)
Por outro lado, é evidente que o anticapitalismo apaixonado e místico de naphta, suas invectivas contra o "reino satânico do dinheiro e dos negócios" estão bastante afastadas da crítica marxista e leninista do capitalismo. Esse distanciamento se deveria, como o sugere Y. Bourdet, ao fato de que Thomas Mann tinha "um conhecimento insuficiente das análises de O Capital" ? É necessário estudar os três livros de O Capital para saber que as teses econômicas de Marx são distintas das dos padres da Igreja, e nada têm a ver com a nostalgia da Idade Média ou com a luta contra as tentações do Diabo ? O fato assinalado pelo próprio Bourdet, de que as críticas de Naphta contra o comércio "se aproxima mais de uma homilia religiosa do que da crítica marxista" pode ser explicado pela ignorância de Thomas Mann sobre os escritos de Marx ?
Parece-nos então que o jesuitismo, o obscurantismo e o clericalismo de Naphta não são nenhum "disfarce" nem uma fraqueza devida à ignorância de Thomas Mann: eles fazem parte de sua ideologia do mesmo modo que a dimensão revolucionário-proletária.

Thomas Mann e Albert Einstein
Nicolas Tertulian, da Universidade de Bucarest, em sua poêmica resposta a Bourdet, está mais próximo de uma análise rigorosa do texto de Thomas Mann, quando encontra (partindo de uma sugestão do próprio Lukács) nos discursos de Naphta "let-motiv de determinada sociologia e determinada filosofia germânicas, de tipo conservador-reacionário, desde Max Scheller de Von Umsturz der Werte a Sombart, e de Von Ewigen im Menschen e desde Othmar Spann até Hans Freyer, temas e atitudes que a forma lukacsiana do "romantismo anticapitalista" definiu exatamente. Os exemplos de pensadores neo-românticos dados por ele não são os mais pertinentes - os autores que influenciaram Thomas Mann nessa época eram antes Dostoievsky, Tolstoi, Novalis, Schopenhauer, Nietzsche, Bergson e Sorel - mas, a idéia fundamental é justa. Em nossa opinião, Tertulian está no caminho certo para resolver o "enigma Naphta" quando fala das "fusões paradoxias" e "misturas ideológicas insólitas", das quais Sorel é um exemplo evidente. Infelizmente, ele retorna, em última instância, à tese clássica de Lukács, considerando as idéias de Naphta como "fascistizantes", sublinhando que os temas do romantismo anticapitalista desaguam necessariamente na "literatira demagógica das ideologias ´ré-fascistas e fascistas" e proclamando peremptoriamente: "as idéias possuem sua morfologia e sua sintaxe rigorosas, as quais tornam impossível uma confusão entre um pensamento "de direita" e um pensamento "de esquerda".
Ora, as "misturas ideológicas insólitas" do tipo Sorel mostram precisamente que as coisas não são tão simples...
Não podemos também seguir Tertulian quando afirma que o pensamento de Lukács situa-se "exatamente nas antípodas de semelhantes constelações ideológicas" e que ele foi "sempre fundado sobre o elogio do aristotelismo, da renascença, do Século das Luzes, das tradições democráticas européias". Lukács, ao contrário, reconhecia explicitamente no prefácio de 1967 aos seus escritos de juventude que durante todo um período seu pensamento se caracterizava por um "idealismo ético como todos os componentes de anticapitalismo romântico". Voltaremos a este assunto.
Quem é então Naphta ?
As respostas fornecidas por Lukács e Yvon Bourdet são totalmente opostas, mas resultam de um procedimento semelhante: em ambos os casos seleciona-se um aspecto do personagem e tenta-se "desembaraçar-se" do outro. Para Lukács, Naphta é um fascista e seu comunismo não é mais do que "demagogia"; para Bourdet, ele é leninista e seu catolicismo não é senão "disfarce". Tentam assim tornar arbitrariamente coerente um personagem cuja essência são precisamente a contradição e o paradoxo. Ambos são também obrigados a fazer de Thomas Mann um adivinho, um profeta, um visionário que, por dons miraculosos de clarividência, previu com grande antecipação o fascismo e o stalinismo.
Porém, como acentuava, com razão, esse eminente professor da dialética que se chama Blaise Pascal, "para entender o sentido de um autor é preciso conciliar todas as passagens contraditórias. Assim, para entender as Escrituras, é preciso ter um sentido com o qual todas as passagens contrárias concordem. Não basta ter um sentido que convenha a várias passagens concordantes, mas ter um que concorde inclusive com as passagens contraditórias. Todo autor tem um sentido, ao qual todas as passagens contrárias se coadunam, ou não tem sentido algum."
A nosso ver - e isso decorre de tudo aquilo que temos escrito nesse capítulo sobre intelligentsia alemã na passagem do século -o sentido com o qual concordam todas as passagens contraditórias do discurso estranho, sedutor, repulsivo e ambíguo de Naphta é precisamente o neo-romantismo antiburguês, que contém em si, como virtualidades, ao mesmo tempo, o comunismo e a reação, o bolchevismo e o fascismo, Ernst Bloch e Paul Ernst, Gyorgy Lukács e Stephan George. O gênio da Thomas Mann não está em "profetizar" o futuro, mas em descrever com ironia e sutileza um fenômeno contemporâneo, levando-o até as últimas consequências (consequências precisamente contraditórias).
Vimos que as "Considerações de um Apolítico" (1918) de Thomas Mann estavam profundamente impregnadas pelo anticapitalismo romântico. Em 1922-1923, distanciou-se parcialmente das teses dessa obra (sobretudo de seu antidemocratismo) sem por isso se vincular ao liberalismo burguês clássico: donde a hesitação de Hans castorp entre Naphta e Settembrini...Longe de travar (como pretende Lukács) um "luta ideológica" contra a "demagogia fascista", Thomas Mann mostra-se, em A Montanha Mágica tão seduzido quanto inquieto peolo discurso de Naphta. Na realidade, a perspectiva de uma síntese entre o conservantismo romântico e a revolução socialista - que é a idéia principal de Naphta - não está tão distanciada das concepções político-culturais do próprio Thomas Mann, que escreve num ensaio dos anos 20 ("Kultur und Sozialismus"):
"o que seria necessário, o que seria, inclusive, tipicamente alemão seria uma união e um pacto entre a concepção conservadora da cultura e as idéias sociais revolucionárias, entre Grécia e Moscou, se me posso permitir esse recurso: eis as idéias que um dia eu tentei promover. Declarei que a situação não seria boa na Alemanha, e que a Alemanha não reencontraria a si mesma, senão quando Karl Marx tivesse com Friedrich Hörlderlin, um encontro que, todavia, está a ponto de realizar-se. Esqueci de acrescentar que o conhecimento unilateral permaneceria forçosamente estéril."
Lukács cita essa frase de Thomas Mann, mas procura esvaziar seu conteúdo acentuado que Hörlderlin "foi o maior poeta citoyen alemão" e, consequentemente, estava "muito longe de uma 'concepção alemã conservadora da cultura'".
Porém, nesse contexto, o que importa não é tanto o "verdadeiro" sentido de Hörlderlin, mas o sentido que lhe atribui Thomas Mann. Associando Hörlderlin ao conservantismo cultural romântico, Thomas Mann apenas segue a tradição da crítica literária alemã. O próprio Lukács o reconhece em outro lugar, pois em sua Breve História da Literatura Alamã lamenta-se da "anexação desse revolucionário tardio e solitário que foi Hörlderlin pelo romantismo reacionário."
Em que a ideologia de Naphta depende do anticapitalismo romântico ?
Ele condena violentamente "os ingleses (que) inventaram a doutrina econômica da socieade", "a riqueza capitalista...alimento das chamas infernais", os "horrores do comércio e da especulação modernas", o poder demoníaco do dinheiro, "a selvageria bestial e infame do campo de batalha econômico", burguês etc. E fá-lo em nome da Igreja Católica, de uma nostalgia da Idade Média e da sociedade pré-capitalista. Seu pensamento é, pois, "mistura de revolução e obscurantismo" (Settembrini dixit); em uma passagem surpreendente, Hans Castorp qualifica Naphta de "revolucionário da conservação - quase a mesma definição que Martin Buber dá do pensamento de Gustav Landauer, o amigo de Paul Ernst (1891) e Ernst Toller (1918-1919) ! - e o narrador o descreve nos seguintes termos:
"Naphta era por instinto simultaneamente revolucionário e aristocrata, socialista, e, ao mesmo tempo, possuído pelo sonho de chegar a formas de existência nobres e distintas, exclusivas e ordenadas."
A fonte de todas essas contradições e ambigüidades nos é dada pelo próprio Naphta em uma de suas derradeiras homilias:
"Fala, entre outras coisas, do romantismo e do fascinante duplo sentido desse movimento europeu do início do Século XIX, diante do qual os conceitos de reação e revolução se desvanescem, embora não se reúnam em um novo conceito mais alto." Thomas Mann cristalizou em Naphta, portanto, o "duplo sentido fascinante" do romantismo, desenvolvendo até o fim os dois sentidos opostos contidos nessa matriz. A tese que estamos tentando apresentar neste capítulo, sobre o hermafroditismo ideológico do anticapitalismo romântico é magnificamente ilustrada pelo personagem do jesuíta comunista, que contém em si, justapostas, combinadas, misturadas às vezes, as tendências extremas que se podem desenvolver a partir da raiz comum.
(...)
Numa carta de 1917 a um amigo, Thomas Mann da sua intenção de opor ao liberal-republicano Settembrini o personagem de um "reacionário cínico-desesperado".(6)
Esse desespero de Naphta está próximo ao "clima ideológico" dos principais escritos de Thomas Mann de antes da guerra: a atmosfera de declínio monumental de Os Buddenbrooks e a da decomposição mórbida de Morte em Veneza. Na realidade, uma tendência semelhante delineia-se na maior parte dos autores neo-românticos: Theodor Storm, Stephan George, Paul Ernst. Não é por acaso que essa versão trágica do mundo seja mais intensa e dramática em Paul Ernst, cuja recusa da sociedade liberal-burguesa é também a mais impressionante, inclusive assumindo no início uma forma semi-anárquica (os grupos dos "Jünger" do SPD em 1891) - antes de se tornar ultraconservador nos anos 20. (7) E não é também por acaso, como veremos, que Lukács, cujo anticapitalismo é bem mais radical do que o da maioria dos intelectuais alemães, seja atraído precisamente pela obra de Paul Ernst.
* * *
No entanto, além da literatura, é no conjunto da intelligentsia alemã romântico-anticapitalista que se apresenta essa "consciência trágica" e, em particular, entre os sociólogos universitários.
Já observamos o aspecto trágico de Tönnies, o profundo pessimismo social de max Weber e a problemática simmeliana da tragédia da cultura. A isso pode-se acrescentar a visão da História como declínio permanente dos valores em Scheller e o tema da decadência em autores tão diversos como Alfred Weber, Werner Sombart e Oswald Spengler.
Max Weber resumiu notavelmente essa atitude comum a uma larga fração da intelligentsia alemã (compartilhada parcialmente por ele) nos seguintes termos:
"Eles (os intelectuais) olham com desconfiança a abolição das condições tradicionais da comunidade e a destruição de todos os inúmeráveis valores éticos e estéticos ligados a essas tradições. Duvidam de que a dominação do capital possa dar garantias superiores e mais duráveis à liberdade pessoal e ao desenvolvimento da cultura intelectual, estética e social que representam...Acontece então, atualmente, nos países civilizados, que os representantes dos interesses superiores da cultura dão as costas e se opõem com uma profunda antipatia ao inevitável desenvolvimento do capitalismo..."(8)
Os três princiapais aspectos dessa visão trágica são:
1. Uma versão metafísica do problema da alienação, da reificação e do fetichismo da mercadoria. O exemplo característico é (como já vimos) a obra de Simmel que transfigura a problemática sócio-econômica do marxismo em uma visão idealista, de coloração neokantiana, do conflito, do próprio abismo, entre o sujeito e o objeto, a "vida" e as "formas" culturais, a cultura subjetiva e a cultura objetiva; autonomização das instituições sociais com relação às necessidades concretas dos indivíduos, a dominação dos homens por seus produtos econômicos e/ou culturias que assim se torna um "destino trágico" inevitável e irresistível da sociedade moderna. (9)
2. Uma dualidade neokantiana entre a esfera de valores e a realidade, entre o reino do espírito e o da vida social e política, que é característica da escola de Heidelberg (Rickert, Lask etc) e que também se manifesta sob formas mais mediatizadas entre os sociólogos (Max Weber notadamente).
3. O sentimento de "impotência do espírito" em face de uma sociedade "massificada", inculta, bárbara-civilizada, grosseiramente materialista.
Concluindo, pode-se dizer que a visão trágica do mundo entre os escritores, sociólogos, e outros intelectuais alemães da passagem do século é o produto da combinação entre:
a) uma oposição mais ou menos profunda entre os seus valores ético-culturais e o processo de desenvolvimento rápido e brutal do capitalismo industrial monopolista na Alemanha;
b) o desespero de toda possibilidade de conter ou impedir esse processo, considerado como uma "fatalidade" irreversível.
A intensidade e o radicalismo da visão trágica de mundo depende, em cada autor, do grau de repulsa diante do capitalismo e da resignação e/ou indignação diante do seu advento triunfante.
********************************************************
Notas
(1) Lukács, Thomas Mann, Maspero, 1967, p. 35-37.
(2) Ibid, p. 36, 212, 224; cf. também p. 228: Thomas Mann "foi um dos primeiros escritores a reconhecer o perigo desta reação ascendente de novo tipo - o fascismo - e a comprometer-se valentemente na luta contra ela, com os maiores meios literários. Esta luta ideológica forma o eixo de sua novela A Montanha Mágica".
(3) Bourdet cita como "outros marxistas" que puderam inspirar Thomas Mann: Ernst Bloch e Walter Benjamin. Concorda-se quanto a Bloch, mas, como o destacou Nicolas Tertulian, em sua resposta a Bourdet, Benjamin antes de 1923 estava longe de ser marxista...
(4) Poder-se-ia acrescentar a isto que, considerando o testemunho de Ernst Bloch e de Paul Honigsheim sobre o catolicismo do jovem Lukacs por volta de 1912-1914, naphta pode parecer como uma justaposição de duas etapas distintas da evolução ideológica de Lukács. Todavia, é pouco provável que Thomas Mann tivesse conhecimento das tendências "eclesiásticas" de Lukács antes da guerra.
(5) Por exemplo, quando naphta elogia a caridade cristã para com os doentes e elogia a própria doença como um "estado sagrado" tira disso esta conclusão muito provocadora: " Por esta razão a conservação da pobreza e da enfermidade era do interesse para ambas as partes, e esta concepção permaneceria válida tanto tempo quanto fosse possível manter-se no ponto de vista puramente religioso." La Montagne Magique, p.487. Mesmo com toda boa vontade do mundo não se pode achar muito "bolchevismo" nesse tipo de raciocínio...
(6) Thomas Mann, Briefe an Paul Amman, Lübeck, 1960. Terulian cita esta carta como prova de que Naphta foi concebido completamente como um "prefascista" e não como um "leninista". Tem razão, mas não se deve esquecer que a dimensão "revolucionária" foi acrescentada ao personagem Naphta em princípios dos anos 20, quando Thomas Mann assistiu, com assombro, à conversão ao bolchevismo de certos pensadores próximos da corrente neoromântica: Ernst Bloch, Lukács etc.
(8) Max Weber, Essays in Sociology, London, Routledge & Kegan Paul Ltd, 1967, p. 371-372.
(9) Simmel, Philosophische Kultur, Leipzig, 1911, p.272.
Extraído de: Michael Löwy, Para Uma Sociologia dos Intelectuais Revolucionários.

 Thomas Mann
Thomas Mann