
Texto de Albert Low, extraído do livro
"A Prática do Zen e o Conhecimento de si mesmo"
O Dogen diz o seguinte: "Praticar o Zen é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo é esquecer de si mesmo."
O que isso significa, "Praticar o Zen é conhecera si mesmo"?
Como regra geral, não conhecemos a nós mesmos; ao contrário, conhecemos coisas, pensamentos, emoções, sentimentos, mas não a nós mesmos. Quando Gurdjieff diz que não nos lembramos de nós mesmos, ele está dizendo exatamente o mesmo que Dogen.
Mas o fato de estarmos cheios demais de nós mesmos não constitui problema?
Sim, mas esquecemos o que é essencial. Dogen diz que conhecer a si mesmo é esquecer de si mesmo, mas, antes que possamos esquecer de nós mesmos, devemos conhecer a nós mesmos. Constantemente, usamos a palavra "eu". Todas as nossas conversas, reais e imaginárias, giram em tomo do "eu". Dizemos "eu" gosto e "eu" não gosto; "eu" quero e "eu" não quero. Confundimos o "eu" com o si mesmo; embora eles não possam ser separados, não são a mesma coisa. Uma monja Zen dizia: "Eu não posso arrancar a erva daninha, porque, se o fizer, estarei arrancando a flor." Um mestre Zen queria dizer o mesmo quando falava: "O ladrão meu filho!" É como um espelho e seus reflexos: eles não são dois, mas não são o mesmo. "Eu" também é um reflexo com o qual ficamos muito fascinados, que evoca um drama constante e infindável de emoções, medos e fracassos, sucessos e alegrias. Surfamos pela vida na prancha do "eu", lutando para ficar na crista da onda, mas afundando pra sempre na angústia. "Eu" é sempre algo que vai acontecer no futuro, algo para esperar, pra atingir, para obter, para ganhar. Dai, vem o momentum da jornada.
A satisfação do "eu" é o nosso culto; para isso, curvamos nossa vontade e nosso desejo. O ego, como um rei morto, precisa ser alimentado, satisfeito a todo custo — de tal maneira que freqüentemente confundimos a satisfação do ego com a felicidade, embora ambas sejam tão diferentes quanto a areia e o arroz. A maior satisfação do ego freqüentemente anda de mãos dadas com uma profunda infelicidade. Basta pensar nas estrelas do rock, agarrando o microfone e se contorcendo numa confusão de luz e estupor enquanto aceitam a adulação de estranhos; ou nos executivos aflitos pisando como burros a roda da aclamação pública, exaustos por longas noitadas, quartos de hotel e aeroportos, esmagados pela carga do próprio sucesso. Entretanto, embora talvez mais raramente, a felicidade chega sem qualquer satisfação do ego. Monges, ermitãos e anacoretas às vezes encontram esse tipo de felicidade, mas também a encontram os homens e as mulheres que estão simplesmente satisfeitos com o que têm, sem considerar se é muito ou pouco.
A satisfação do ego é um claro reflexo do si mesmo, ou tão claro quanto a água lodosa da experiência o permitir. Estamos sempre procurando por ela, e, quando a encontramos, nós a tratamos com carinho, guardamos e procuramos perpetuá-la, até mesmo á custa da saúde, da sanidade e, ás vezes, da própria vida. Ela tem muitos degraus e gradações. Por exemplo, a sensação do si mesmo, a mais básica de todas as auto-reflexões, oferece a mais elementar satisfação do ego. Quando estamos incertos, indecisos, envergonhados, ou quando temos medo do palco, perdemos a sensação do si mesmo. As vezes dizemos, depois de um momento embaraçoso: "Eu estava completamente á deriva", "estava perdido", "estava fora de mim" e assim por diante. Se a incerteza é grande, as sensações de ansiedade, medo ou pânico podem inundar-nos. Então, desenvolvemos estratégias para dar conta da ansiedade, restaurando a sensação do si mesmo. Os homens esfregam o queixo, usando a barba como uma espécie de lixa. As mulheres põem a mão no cabelo. Tocamos o nariz, passamos a língua pelos lábios, cruzamos os braços ou pernas (ou ambos). Tudo para restaurar a sensação do si mesmo.
Tudo isso é inócuo. Porém, algumas pessoas magoam a si próprias e até mesmo se ferem para recuperar essa sensação perdida. Lembro-me de ter visto uma jovem caminhando por uma rua, segurando-se à mãe com uma das mãos. Seu outro braço subia e descia ao lado do corpo, castigando a coxa. Batia, batia, batia, o braço nunca parava, a não ser quando a rua ficou tão cheia que ele acabou sendo obstruído. Então, a garota olhou em volta como alguém que está afundando, em pânico, até que conseguiu forçar caminho entre a multidão e entrar numa área livre, onde o braço pôde continuar seu trabalho brutal.
Temos outra estratégia ainda mais sutil para ter a sensação do si mesmo. É pela tensão fisica. A maioria das pessoas é como uma catedral gótica de tensão: cada tensão apoia outras tensões, que por sua vez apoiam outras tensões. A pedra fundamental é o "eu" e, como um garotinho correndo colina abaixo para manter o equilíbrio, estamos todos correndo atrás dessa pedra fundamental que apoia o arco da nossa existência. Ás vezes, quando as pessoas meditam, elas abrem mão dessa pedra fundamental por um momento — e a estrutura toda move-se, precipita-se, escorrega. Esse movimento cria grande medo e incerteza, descendo pela nuca e exigindo maior tensão, ranger de dentes, cerrar de punhos, encolhimento de diafragma.
Além da estratégia da tensão, existe outra que depende de uma emoção habitual, assim como a ansiedade entorpecente, a vaga depressão, a raiva sufocante. Atiçamos o fogo da negatividade com lembranças: fracassos anteriores, conflitos passados, traições passadas e humilhações. Constantemente remexemos os carvões, procurando conhecer o si mesmo sob a luz e o calor de sua dor. A última coisa que as pessoas abandonam, diz Gurdjieff, é o seu sofrimento. Para muitas, o objetivo da vida — a última pedra fundamental — é libertar-se de um certo tipo de ansiedade, de um certo tipo de dor; mas, se elas tivessem de fazer isso, sua vida perderia o significado, e assim o círculo vicioso é mantido.
Mais profundo ainda é o monólogo, aquela discussão infindável com o Outro oculto no crepúsculo de nossa mente. Lisonjeando, explicando, ensinando, argüindo, a discussão é interminável. No centro de tudo isso está a esperança da entronização do "eu". Muitas conversas com amigos e inimigos são simplesmente continuações desse monólogo. Então, o Outro emerge das sombras e, por um momento, fica diante de nós. Depois de algum tempo, a conversa termina, a luz se apaga, mas o monólogo continua. Ele continua até mesmo durante o sono, quando se tece inextricavelmente com imagens nos sonhos. Planos, projetos e objetivos aproveitam a energia que de outro modo é dissipada pelo monólogo, mas, mesmo assim, os planos, os objetivos ainda fazem parte dessa novela da qual eu sou o diretor, o produtor, a estrela que atua e a audiência. Outros, amigos e inimigos, são o elenco de apoio e devem conhecer os seus papéis, falar o seu texto, entrar e sair conforme o papel que desempenham. Se eles esquecem sua fala, mudam-na, não atuam de acordo com a personagem que representam, dizemos que a vida está repleta de acidentes, injustiças, fracassos, e que os outros são injustos, irresponsáveis, insensíveis. Julgamos a nós mesmos e aos outros, repartimos a repreensão e o elogio, tudo de acordo com o roteiro do drama de nossa vida Shakespeare não disse que o mundo todo é um palco e que todos os homens e mulheres são meros atores?
Quando me dizem que devemos conhecer a nós mesmos, acredito que isso quer dizer conhecer a estrela da novela, o que a moldou, onde ela aprendeu os seus papéis ou como acabou dizendo esse texto. Acreditamos que conhecer significa analisar, encontrar a causa e o efeito, ver as sementes sendo plantadas e as colheitas sendo realizadas — sementes de solidão, raiva, crueldade, medo e ansiedade; colheitas de miséria, fracasso, desespero. Acompanhamos o florescimento das sementes como ervas daninhas e ficamos atentos ao sol e à chuva, às situações que as devem ter fertilizado e assim tentamos chegar a conhecer esse jardim no qual flores, ervas daninhas, capim e espinhos lutam numa simbiose que chamamos de personalidade.
Isso, porém, não é o que Dogen quer dizer quando fala em conhecermos o si mesmo, nem o que Gurdjieff quer dizer com "lembramo-nos do si mesmo". Conhecer o si mesmo requer que demos o primeiro passo e vejamos o drama, qualquer que seja o seu conteúdo, como drama, e saber que ele é uma reflexão. Poucos são capazes de dar esse primeiro passo necessário, porque estamos muito convencidos de que o drama é real, de que o contra-regra e o elenco, as cenas e o diálogo são reais, de que têm uma vida independente daquela que lhes demos. Hoje em dia, essa convicção da realidade do drama chegou a um ponto em que todos somos vitimas: mulheres são vitimas trabalhadores são vitimas, pacientes são vitimas, cidadãos são vitimas. Reclamamos, protestamos, entramos em litígio, tudo na sólida convicção de que "eles" é que são a causa, de que "isso" é o problema.
Damos tudo isso como totalmente certo.
Quando eu era jovem, a indústria de filmes ainda era incipiente. Foi numa época em que o western era popular. Lembro-me de uma vez em que estava assistindo a um filme a respeito de um xerife que usava um chapéu branco, montava num cavalo branco, com um revólver num coldre branco, e cavalgava em direção à cidade para uma luta final com um fora-da-lei que, naturalmente, tinha um chapéu preto, um cavalo preto, um bigode preto e um revólver preto. O xerife cavalgava ereto, alto na sela, em direção à cidade para enfrentar o homem mau que estava de pé no meio da estrada, ligeiramente curvado, esperando que ele descesse do cavalo para começar o duelo.
O xerife desceu lentamente a estrada ladeada de saloons e lojas. A estrada estava vazia, exceto pelo solitário fora-da-lei, atrás do qual estendia-se, ~ longe, o vasto deserto pontuado de cactos e pedras. Além do deserto, surgiam, azuis e roxas, as montanhas com os picos cobertos de neve.
A tensão aumentava à medida que o homem da lei se aproximava do duelo. Ele puxou as rédeas do cavalo, desceu e, com as costas descuidadamente voltadas para o fora-da-lei, prendeu o cavalo a um poste ali peito. Sem nenhuma pressa, ele se voltou e analisou a cena. A tensão alcançou o clímax. Quem faria o primeiro movimento? Tudo parecia congelado na eternidade por alguns momentos. Então as montanhas se moveram! Não muito, mas elas se moveram! Elas não eram reais; eram simplesmente pintadas numa tela grande. Num momento, a coisa toda — caubóis, deserto, cavalos, saloons — virou uma farsa. Já não se podia levar mais nada a sério. Não importava quem ia atirar em quem. Aquilo não era mais real, mas apenas uma ilusão que eu estava tomando real para a minha própria diversão.
Para conhecer o si mesmo, temos de fazer as montanhas se moverem. Tudo de que precisamos é de uma revelação — não muito, apenas um lampejo, um momento no qual não ocorre nenhuma censura.
Esses momentos apresentam-se o tempo todo, e o tempo todo fechamo-nos para eles. Fechamo-nos contra uma perda do si mesmo, reagimos, agarramo-nos, adotamos uma estratégia ou outra. A resistência é quase instintiva. É por isso que todas as religiões dizem-nos para observar, para estarmos alertas e atentos, para estarmos presentes de modo que, quando esses momentos surgirem, possamos apenas deixa-los acontecer sem a resistência. De fato, não podemos deixar de pensar se é a isso que Cristo estava se referindo com a sua parábola das virgens sábias e das tolas. No fim da parábola, o noivo chega, e aquelas que estão prontas vão com ele para a festa de casamento; então, a porta se fecha. "Depois, as virgens tolas também chegam dizendo: ‘Senhor, senhor, abri a porta para nós.’ Mas ele retruca: ‘Fiquem atentas, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora.’"
Esse momento de não-reflexão desvela o despertar antes do despertar, o momento em que bodhichitta aparece. Um fluxo de reflexão que desperta, no contrafluxo de todo conflito num momento de saber sem conteúdo, sem nenhuma consciência do saber. Não se pode nem mesmo falar de "um momento de conhecimento". O conhecimento brilha. Dogen chama esse conhecimento "conhecer o si mesmo". Bodhidharma chama-o de não conhecer em resposta à pergunta que lhe foi feita pelo imperador Wu: "Você não é um homem santo?"
A contraparte do puro conhecimento pode ser chamada de paz ou até mesmo de bem-aventurança, não uma felicidade ou bem-aventurança que a pessoa sente, mas que conhece; conhecer é bem-aventurança Ela pode muito bem ser o que o Novo Testamento chama de "uma paz que vai além de todo entendimento". Contudo, para aqueles que estão acostumados a conhecer o si mesmo através de uma cortina de sofrimento e conflito, essa paz boceja como uma ameaça, um abismo, uma fonte de medo. Apenas aqueles que podem estar presentes vêem-na como uma oportunidade para uma reviravolta, um pravritti, como é conhecido em sânscrito. Com essa reviravolta, a luxúria após a reflexão, a tentativa de alcançar o absoluto na experiência transitória, deixa de exercer controle. A pessoa já não vive mais as coisas como objetivas e independentes, mas como reflexões sem conhecimento. No contrafluxo de toda a necessidade de concentrar a atenção, todo conflito toma-se uma dança, toda oposição se funde como "eu", e os Outros são conhecidos como duas facetas de uma realidade. A preparação para essa reviravolta geralmente leva muito tempo; é nisso que consiste a prática.
Alguém pode muito bem objetar, dizendo que a prática também consiste em enfocar a atenção, concentrar-se. Sim, às vezes, a prática requer mesmo uma intensa concentração que exige um grande esforço, até mesmo físico. Isso permite que a mente se retire de todos os focos triviais que a obstruem. Se concentramos a mente intensamente, podemos romper com os milhares de fios que nos amarram, como os fios dos liliputianos amarraram Gulliver. Mas então devemos ir além desse esforço. Embora a concentração e a força da mente ocupem o seu lugar, a prática vai muito além disso na contemplação. Contemplação significa "ser uno com", estar completamente aberto. Nisso reside a grande diferença entre praticar com um koan e praticar com um mantra. Para praticar com um koan, deve-se manter a mente aberta. Os mestres Zen chamavam isso de sensação de dúvida. O mantra, porém, tem o efeito de fechar a mente, de fornecer-lhe um foco permanente. A sensação de dúvida, também chamada sensação de anseio ou sensação de desejo, permite que a mente fique cada vez mais excitada sem apoiar-se em nada, até o ponto em que a pura consciência sem conteúdo, reflexão ou desejo pode dar um salto à frente numa explosão de luz, numa explosão de puro ser. A reviravolta deve ser súbita; é como se a pessoa desse um pulo de alguma coisa para nada, ou melhor, de alguma coisa para tudo.









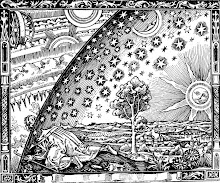

























































Nenhum comentário:
Postar um comentário