 Slavoj Zizek
Slavoj ZizekPor: Slavoj Zizek
Uma das lições mais claras das últimas décadas é que o capitalismo é indestrutível. Marx comparava o capitalismo a um vampiro, e hoje um dos pontos que mais se salientam nessa comparação é que os vampiros sempre conseguem se reerguer, mesmo depois de feridos de morte. Até a tentativa de Mao, na Revolução Cultural, de apagar todos os vestígios do capitalismo acabou desembocando no seu retorno triunfal.
A esquerda de hoje reage de maneira bastante variada à hegemonia do capitalismo global e ao seu complemento político, a democracia liberal. Pode, por exemplo, aceitar essa hegemonia, mas continuar a lutar por reformas dentro das suas regras (a social-democracia da Terceira Via).
Ou pode aceitar que essa hegemonia não deixará de existir, mas ainda assim preconizar uma resistência a ela a partir dos seus “interstícios”.
Ou aceitar a futilidade de toda luta, já que a hegemonia é tão abrangente que não há nada que se possa fazer, exceto esperar pela irrupção da “violência divina” — uma versão revolucionária do “só Deus pode nos salvar”, de Heidegger.
Ou reconhecer a futilidade temporária da luta. Após o triunfo do capitalismo global, como a verdadeira resistência é impossível, diz o argumento, a única coisa que podemos fazer, enquanto o espírito revolucionário da classe operária global não se renova, é defender o que ainda resta do Welfare State, confrontando os ocupantes do poder com reivindicações que eles não têm como atender. E, fora isso, nos refugiarmos nos estudos culturais, nos quais é possível prosseguir silenciosamente o trabalho de crítica.
Ou enfatizar que o problema é mais profundo, e que o capitalismo global é, em última instância, um efeito dos princípios subjacentes da tecnologia, ou da “razão instrumental”.
Ou postular que é possível minar o capitalismo global e o poder do Estado não por meio de um ataque direto, mas transferindo o foco da luta para as práticas cotidianas, com as quais se pode “construir um mundo novo”. Desse modo, as fundações do poder do capital e do Estado ficarão cada vez mais abaladas e, em algum momento, o Estado acabará desabando (o exemplo dessa visão é o movimento zapatista, no México).
Ou enveredar pelo caminho “pós- moderno”, transferindo a ênfase da luta anticapitalista para as múltiplas formas de disputa político-ideológica pela hegemonia, enfatizando a importância da rearticulação do discurso.
Ou apostar que é possível repetir, no nível pós-moderno, o gesto marxista clássico de incorporar a “negação” do capitalismo: com a ascensão contemporânea do “trabalho cognitivo”, a contradição entre a produção social e as relações capitalistas tornou-se mais aguda do que nunca, sendo possível pela primeira vez a “democracia absoluta” (essa seria a posição de Michael Hardt e Antonio Negri).
Essas posições não são apresentadas para evitar uma “autêntica” política radical de esquerda — o que elas tentam contornar, na verdade, é a falta dessa posição. A derrota da esquerda, porém não esgota a história dos últimos trinta anos. Existe outra lição, não menos surpreendente: é a de que precisamos aprender com o crescimento da social-democracia de Terceira Via na Europa Ocidental e com a liderança dos comunistas chineses, cujo desenvolvimento, segundo se diz, é o mais explosivo de toda a história do capitalismo.
Eis a lição em poucas palavras: podemos fazer isto melhor. No Reino Unido, a revolução thatcheriana foi, no seu tempo, caótica e impulsiva, marcada por contingências imprevisíveis. Foi Tony Biair quem conseguiu institucionalizá-la ou, nas palavras de Hegel, transformar (o que num primeiro momento parecia) uma contingência, um acidente histórico, numa necessidade. Thatcher não era thatcherista, era simplesmente ela mesma. Foi Blair (mais que o primeiro-ministro John Major) quem realmente deu forma ao thatcherismo.
A resposta de alguns críticos da esquerda pós-moderna a essa situação difícil é propor uma nova política de resistência. Os que ainda insistem em combater o poder do Estado, para não falar dos que ainda cogitam em tomá-lo, são acusados de um apego indevido ao “velho paradigma”: a tarefa, hoje, é resistir ao poder do Estado retirando-se do seu terreno e criando novos espaços fora do seu controle, o que é, evidentemente, o contrário de aceitar o triunfo do capitalismo. A política de resistência não passa do complemento moralizante de uma esquerda da Terceira Via.
O recente livro de Simon Critchley, Infinitely Demanding: Ethics of Commitment, Politics of Resistance [“Demandas Infinitas: Ética do Compromisso, Políticas de Resistência”, London: Verso, 2007. i68 p.j, representa essa posição de maneira quase perfeita. Para Critchley, o Estado liberal-democrático chegou para ficar. Como as tentativas de abolir o Estado fracassaram miseravelmente, a nova política deve se concentrar a uma certa distância dele: nos movimentos contra a guerra, nas organizações ecológicas, nos grupos que protestam contra abusos racistas ou sexuais, e em outras formas de organização espontânea local. Ela deve ser uma política de resistência ao Estado, de denúncia das suas limitações, de seu bombardeio com demandas impossíveis. O principal argumento em favor dessa política se baseia na dimensão ética das “reivindicações infinitas” por justiça: nenhum Estado tem como satisfazer essa expectativa uma vez que a sua finalidade última é assegurar a própria reprodução (o seu crescimento econômico, a sua segurança pública etc.).
“Obviamente”, diz Critchley, a história é geralmente escrita pelas pessoas que detêm as armas e os cassetetes, e não se pode esperar derrotá-las a golpes de espanador e sátira bem-humorada. Ainda assim, como demonstra de maneira eloqüente a história do niilismo ativo de ultra-esquerda, estamos perdidos no momento em que pegamos em armas e cassetetes. A resistência política anárquica não deve copiar e espelhar a violência do poder ao qual se opõe.
Nesse caso, o que deveriam fazer, por exemplo, os democratas americanos? Parar de disputar o poder estatal e refugiar-se nos interstícios do Estado, deixando o poder para os republicanos e iniciando uma campanha de resistência anárquica? E o que faria Critchley se tivesse pela frente um adversário como Hitler? Em casos assim, o militante pode “copiar e espelhar a violência do poder” ao qual se opõe? Será que a esquerda não deveria fazer uma distinção entre as circunstâncias em que é possível recorrer à violência no confronto com o Estado e aquelas em que só cabe desferir “golpes de espanador e sátira bem-humorada”?
A ambigüidade da posição de Crítchley reside num estranho non sequitur: se o Estado não deixará de existir, se é impossível acabar com ele (ou com o capitalismo), por que afastar-se dele? Por que não atuar em conjunto com o Estado ou de dentro dele? Por que não aceitar a premissa básica da Terceira Via? Por que limitar-se a uma política que, como afirma Critchley, “questiona o Estado e acusa a ordem estabelecida, não com a finalidade de livrar-se do Estado, por mais que isso possa ser desejável em algum sentido utópico, mas de melhorá-lo ou atenuar os seus efeitos malévolos”?
Essas palavras demonstram, simplesmente, que tanto o Estado liberal-democrático de hoje quanto o sonho de uma política anárquica de “reivindicações infinitas” existem numa relação de mútuo parasitismo: os militantes anárquicos produzem o pensamento ético, enquanto o Estado cumpre o papel de gerir e regular a sociedade. O militante anárquico ético-político de Critchley atua como um superego, bombardeando o Estado de demandas a partir de uma posição confortável. E quanto mais o Estado tenta satisfazer essas demandas, mais culpada é a aparência que ele assume. Nos termos dessa lógica, os agentes anárquicos concentram o seu protesto não contra as ditaduras declaradas, e sim contra a hipocrisia das democracias liberais, acusadas de traição aos princípios que professam.
As grandes manifestações em Washington e Londres contra o ataque americano ao Iraque são um exemplo claro dessa estranha relação simbiótica entre o poder e a resistência. E o resultado paradoxal foi que os dois lados saíram satisfeitos. Os manifestantes salvaram as suas belas almas: deixaram claro que não concordavam com a política governamental em relação ao Iraque. Os ocupantes do poder aceitaram o protesto com toda a calma, e até lucraram com ele: não só as manifestações não prejudicaram em nada a decisão de atacar o Iraque, como ainda serviram para legitimá-la, o que explica, aliás, a reação de George W. Bush diante das manifestações de massa contra a sua visita a Londres: “Estão vendo, é por isso que estamos lutando, para que isso — protestar contra as decisões do governo — seja possível também no Iraque!”
É digno de nota que o caminho pelo qual enveredou Hugo Chávez, a partir de 2006, seja exatamente oposto ao da esquerda pós-moderna. Longe de resistir ao poder do Estado, ele o tomou (primeiro com uma tentativa de golpe e depois democraticamente), usando sem hesitar os aparatos do Estado venezuelano para perseguir os seus objetivos. Além disso, está militarizando os barrios e neles promovendo o treinamento de unidades armadas. E o que mete medo acima de tudo: agora que começa a sentir os efeitos econômicos da “resistência” do capital ao seu governo (a escassez temporária de produtos nos supermercados, subsidiados pelo Estado), anunciou planos para consolidar os 24 partidos que o apóiam numa única agremiação.
Mesmo alguns dos seus aliados se mostram céticos diante da idéia: será que isso não irá acontecer em prejuízo dos movimentos populares que deram ânimo à revolução venezuelana? Essa escolha, embora arriscada, deve ser plenamente apoiada: a dificuldade é fazer o novo partido funcionar não como um típico partido socialista (ou peronista) de Estado, mas como um veículo para a mobilização de novas formas de política (como os comitês de base organizados nas favelas). O que devemos dizer a alguém como Chávez? “Não, não tome o poder do Estado, recue, deixe de lado o Estado e a situação que encontrou?” Chávez é muitas vezes visto como um palhaço — mas será que um recuo como esse não iria reduzi-lo a mais uma versão do subcomandante Marcos, a quem muitos mexicanos de esquerda hoje se referem como o “subcomediante Marcos”? Hoje, são os grandes capitalistas — Bill Gates, as empresas poluidoras, os “caçadores de raposas” — que “resistem” ao Estado.
A lição é que a decisão realmente subversiva não está em insistir em reivindicações “infinitas”, que não podem ser atendidas pelos ocupantes do poder. Como eles sabem que sabemos disso, essa atitude de promover “demandas infinitas” não representa o menor problema para os poderosos: “É ótimo que, com as suas demandas críticas, vocês nos lembrem em que tipo de mundo todos gostaríamos de viver. Infelizmente, vivemos no mundo real, onde temos de nos contentar com o que é possível”.
O que devemos fazer é, pelo contrário, bombardear os ocupantes do poder com demandas estrategicamente bem escolhidas, precisas e finitas, que não possam ter como resposta essa mesma desculpa.
A esquerda de hoje reage de maneira bastante variada à hegemonia do capitalismo global e ao seu complemento político, a democracia liberal. Pode, por exemplo, aceitar essa hegemonia, mas continuar a lutar por reformas dentro das suas regras (a social-democracia da Terceira Via).
Ou pode aceitar que essa hegemonia não deixará de existir, mas ainda assim preconizar uma resistência a ela a partir dos seus “interstícios”.
Ou aceitar a futilidade de toda luta, já que a hegemonia é tão abrangente que não há nada que se possa fazer, exceto esperar pela irrupção da “violência divina” — uma versão revolucionária do “só Deus pode nos salvar”, de Heidegger.
Ou reconhecer a futilidade temporária da luta. Após o triunfo do capitalismo global, como a verdadeira resistência é impossível, diz o argumento, a única coisa que podemos fazer, enquanto o espírito revolucionário da classe operária global não se renova, é defender o que ainda resta do Welfare State, confrontando os ocupantes do poder com reivindicações que eles não têm como atender. E, fora isso, nos refugiarmos nos estudos culturais, nos quais é possível prosseguir silenciosamente o trabalho de crítica.
Ou enfatizar que o problema é mais profundo, e que o capitalismo global é, em última instância, um efeito dos princípios subjacentes da tecnologia, ou da “razão instrumental”.
Ou postular que é possível minar o capitalismo global e o poder do Estado não por meio de um ataque direto, mas transferindo o foco da luta para as práticas cotidianas, com as quais se pode “construir um mundo novo”. Desse modo, as fundações do poder do capital e do Estado ficarão cada vez mais abaladas e, em algum momento, o Estado acabará desabando (o exemplo dessa visão é o movimento zapatista, no México).
Ou enveredar pelo caminho “pós- moderno”, transferindo a ênfase da luta anticapitalista para as múltiplas formas de disputa político-ideológica pela hegemonia, enfatizando a importância da rearticulação do discurso.
Ou apostar que é possível repetir, no nível pós-moderno, o gesto marxista clássico de incorporar a “negação” do capitalismo: com a ascensão contemporânea do “trabalho cognitivo”, a contradição entre a produção social e as relações capitalistas tornou-se mais aguda do que nunca, sendo possível pela primeira vez a “democracia absoluta” (essa seria a posição de Michael Hardt e Antonio Negri).
Essas posições não são apresentadas para evitar uma “autêntica” política radical de esquerda — o que elas tentam contornar, na verdade, é a falta dessa posição. A derrota da esquerda, porém não esgota a história dos últimos trinta anos. Existe outra lição, não menos surpreendente: é a de que precisamos aprender com o crescimento da social-democracia de Terceira Via na Europa Ocidental e com a liderança dos comunistas chineses, cujo desenvolvimento, segundo se diz, é o mais explosivo de toda a história do capitalismo.
Eis a lição em poucas palavras: podemos fazer isto melhor. No Reino Unido, a revolução thatcheriana foi, no seu tempo, caótica e impulsiva, marcada por contingências imprevisíveis. Foi Tony Biair quem conseguiu institucionalizá-la ou, nas palavras de Hegel, transformar (o que num primeiro momento parecia) uma contingência, um acidente histórico, numa necessidade. Thatcher não era thatcherista, era simplesmente ela mesma. Foi Blair (mais que o primeiro-ministro John Major) quem realmente deu forma ao thatcherismo.
A resposta de alguns críticos da esquerda pós-moderna a essa situação difícil é propor uma nova política de resistência. Os que ainda insistem em combater o poder do Estado, para não falar dos que ainda cogitam em tomá-lo, são acusados de um apego indevido ao “velho paradigma”: a tarefa, hoje, é resistir ao poder do Estado retirando-se do seu terreno e criando novos espaços fora do seu controle, o que é, evidentemente, o contrário de aceitar o triunfo do capitalismo. A política de resistência não passa do complemento moralizante de uma esquerda da Terceira Via.
O recente livro de Simon Critchley, Infinitely Demanding: Ethics of Commitment, Politics of Resistance [“Demandas Infinitas: Ética do Compromisso, Políticas de Resistência”, London: Verso, 2007. i68 p.j, representa essa posição de maneira quase perfeita. Para Critchley, o Estado liberal-democrático chegou para ficar. Como as tentativas de abolir o Estado fracassaram miseravelmente, a nova política deve se concentrar a uma certa distância dele: nos movimentos contra a guerra, nas organizações ecológicas, nos grupos que protestam contra abusos racistas ou sexuais, e em outras formas de organização espontânea local. Ela deve ser uma política de resistência ao Estado, de denúncia das suas limitações, de seu bombardeio com demandas impossíveis. O principal argumento em favor dessa política se baseia na dimensão ética das “reivindicações infinitas” por justiça: nenhum Estado tem como satisfazer essa expectativa uma vez que a sua finalidade última é assegurar a própria reprodução (o seu crescimento econômico, a sua segurança pública etc.).
“Obviamente”, diz Critchley, a história é geralmente escrita pelas pessoas que detêm as armas e os cassetetes, e não se pode esperar derrotá-las a golpes de espanador e sátira bem-humorada. Ainda assim, como demonstra de maneira eloqüente a história do niilismo ativo de ultra-esquerda, estamos perdidos no momento em que pegamos em armas e cassetetes. A resistência política anárquica não deve copiar e espelhar a violência do poder ao qual se opõe.
Nesse caso, o que deveriam fazer, por exemplo, os democratas americanos? Parar de disputar o poder estatal e refugiar-se nos interstícios do Estado, deixando o poder para os republicanos e iniciando uma campanha de resistência anárquica? E o que faria Critchley se tivesse pela frente um adversário como Hitler? Em casos assim, o militante pode “copiar e espelhar a violência do poder” ao qual se opõe? Será que a esquerda não deveria fazer uma distinção entre as circunstâncias em que é possível recorrer à violência no confronto com o Estado e aquelas em que só cabe desferir “golpes de espanador e sátira bem-humorada”?
A ambigüidade da posição de Crítchley reside num estranho non sequitur: se o Estado não deixará de existir, se é impossível acabar com ele (ou com o capitalismo), por que afastar-se dele? Por que não atuar em conjunto com o Estado ou de dentro dele? Por que não aceitar a premissa básica da Terceira Via? Por que limitar-se a uma política que, como afirma Critchley, “questiona o Estado e acusa a ordem estabelecida, não com a finalidade de livrar-se do Estado, por mais que isso possa ser desejável em algum sentido utópico, mas de melhorá-lo ou atenuar os seus efeitos malévolos”?
Essas palavras demonstram, simplesmente, que tanto o Estado liberal-democrático de hoje quanto o sonho de uma política anárquica de “reivindicações infinitas” existem numa relação de mútuo parasitismo: os militantes anárquicos produzem o pensamento ético, enquanto o Estado cumpre o papel de gerir e regular a sociedade. O militante anárquico ético-político de Critchley atua como um superego, bombardeando o Estado de demandas a partir de uma posição confortável. E quanto mais o Estado tenta satisfazer essas demandas, mais culpada é a aparência que ele assume. Nos termos dessa lógica, os agentes anárquicos concentram o seu protesto não contra as ditaduras declaradas, e sim contra a hipocrisia das democracias liberais, acusadas de traição aos princípios que professam.
As grandes manifestações em Washington e Londres contra o ataque americano ao Iraque são um exemplo claro dessa estranha relação simbiótica entre o poder e a resistência. E o resultado paradoxal foi que os dois lados saíram satisfeitos. Os manifestantes salvaram as suas belas almas: deixaram claro que não concordavam com a política governamental em relação ao Iraque. Os ocupantes do poder aceitaram o protesto com toda a calma, e até lucraram com ele: não só as manifestações não prejudicaram em nada a decisão de atacar o Iraque, como ainda serviram para legitimá-la, o que explica, aliás, a reação de George W. Bush diante das manifestações de massa contra a sua visita a Londres: “Estão vendo, é por isso que estamos lutando, para que isso — protestar contra as decisões do governo — seja possível também no Iraque!”
É digno de nota que o caminho pelo qual enveredou Hugo Chávez, a partir de 2006, seja exatamente oposto ao da esquerda pós-moderna. Longe de resistir ao poder do Estado, ele o tomou (primeiro com uma tentativa de golpe e depois democraticamente), usando sem hesitar os aparatos do Estado venezuelano para perseguir os seus objetivos. Além disso, está militarizando os barrios e neles promovendo o treinamento de unidades armadas. E o que mete medo acima de tudo: agora que começa a sentir os efeitos econômicos da “resistência” do capital ao seu governo (a escassez temporária de produtos nos supermercados, subsidiados pelo Estado), anunciou planos para consolidar os 24 partidos que o apóiam numa única agremiação.
Mesmo alguns dos seus aliados se mostram céticos diante da idéia: será que isso não irá acontecer em prejuízo dos movimentos populares que deram ânimo à revolução venezuelana? Essa escolha, embora arriscada, deve ser plenamente apoiada: a dificuldade é fazer o novo partido funcionar não como um típico partido socialista (ou peronista) de Estado, mas como um veículo para a mobilização de novas formas de política (como os comitês de base organizados nas favelas). O que devemos dizer a alguém como Chávez? “Não, não tome o poder do Estado, recue, deixe de lado o Estado e a situação que encontrou?” Chávez é muitas vezes visto como um palhaço — mas será que um recuo como esse não iria reduzi-lo a mais uma versão do subcomandante Marcos, a quem muitos mexicanos de esquerda hoje se referem como o “subcomediante Marcos”? Hoje, são os grandes capitalistas — Bill Gates, as empresas poluidoras, os “caçadores de raposas” — que “resistem” ao Estado.
A lição é que a decisão realmente subversiva não está em insistir em reivindicações “infinitas”, que não podem ser atendidas pelos ocupantes do poder. Como eles sabem que sabemos disso, essa atitude de promover “demandas infinitas” não representa o menor problema para os poderosos: “É ótimo que, com as suas demandas críticas, vocês nos lembrem em que tipo de mundo todos gostaríamos de viver. Infelizmente, vivemos no mundo real, onde temos de nos contentar com o que é possível”.
O que devemos fazer é, pelo contrário, bombardear os ocupantes do poder com demandas estrategicamente bem escolhidas, precisas e finitas, que não possam ter como resposta essa mesma desculpa.









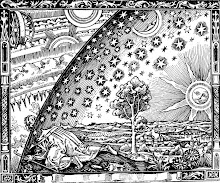

























































Nenhum comentário:
Postar um comentário