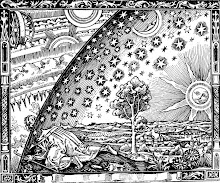Hesse e o segredo de Buda
Passaram-se 90 anos desde a publicação de Sidarta. O pequeno romance – que Hermann Hesse começou a escrever no inverno de 1919 – nascia como reação à guerra e às suas devastações. Há muito tempo, na sua mente, havia se assomado a ideia de que a Europa era uma civilização em declínio.
A reportagem é de Antonio Gnoli, publicada no jornal La Repubblica, 02-09-2012. A tradução é de Moisés Sbardelotto.
Alguns anos antes, o escritor havia feito uma viagem à Índia, que teve o sabor da iniciação e do afastamento da Europa: "Eu fugia dela e quase a odiava, a Europa, com o seu gosto grosseiro, com o seu barulho de feira de interior, com a sua inquietação sem fôlego, com a sua ânsia áspera e impassível de g ozar", escreveu ele em um ensaio que agora vem à tona – juntamente com uma pequena coleção de cartas, de trechos de diário e de outras contribuição – como apêndice a uma nova edição de Sidarta, publicada no dia 5 de setembro pela editora Adelphi (na bela tradução de Massimo Mila).
Completar o livro não foi simples. Uma crise muito severa havia secado a veia narrativa. A esposa, doente da mente e trancada em um manicômio, a pobreza cada vez mais insidiosa, a separação dos filhos contribuíram para aumentar a precariedade do escritor. Foram necessários mais de dois anos para que Hesse completasse a sua "lenda indiana".
E, em 1922, quando o romance saiu, a acolhida não foi emocionante. Ele comunicou a Romain Rolland a decepção por causa dos amigos mais próximos que se calavam e acrescentou que não tinha ouvido da crítica nos jornais "nada mais até agora do que express� �es de respeitoso embaraço". Pode-se entender a reação desfavorável a um livro incomum que, com os olhos de um europeu, contava a Índia através da Índia.
Há muito tempo sabemos que existem livros nascidos para marcar a estação de uma vida. Que borrifam com as suas próprias tramas simples a imaginação de uma era ainda não adulta nem formada. As suas páginas são vividas com ainda mais intensidade quanto mais forte for o desconforto daqueles que se agarram a elas como a um objeto de culto e de salvação.
Sidarta desenvolveria excelentemente a tarefa de arrastar almas incertas a mundos envoltos no sonho oriental. Com o tempo, de fato, esse relato – de tons às vezes fabulísticos e ligeiramente cautelares – conquistaria à sua própria causa literária dezenas de milhões de leitores. Onde estava o seu fascínio?
Hesse escreveu uma história sem pretensões especulativas. Qualquer pessoa que tivesse lido a vida de Sidarta captaria a determinação com que o jovem filho de um brâmane buscava a sua própria estrada sem compromissos. O inquieto Sidarta desejava uma iniciação à vida e à verdade. No começo, ele queria se tornar um sâmana, um asceta cujas práticas místicas o ajudariam a despersonalizar seu próprio ser, a criar aquele vazio interior, condição necessária para assumir qualquer nova forma que o mundo lhe oferecia: a de uma garça-real ou de um chacal, de uma pedra ou de uma madeira, da fome ou da sede.
"Muito aprendeu Sidarta com os sâmanas, muitos caminhos aprendeu a percorrer para sair do próprio eu", escreveu Hesse. Mas ao jovem, dotado de grande inteligência e sensibilidade, não bastava o ensinamento das artes dos sâmanas. Naquele tempo, uma figura circulava e fazia prosélitos: era o Buda. E quando Sidarta o encontrou o reconheceu imediatamente: "Eu o vi, um homenzinho simples, de amarelo cozido, que caminhava tranquilo com a sua tigela nas mãos para as esmolas".
Sidarta – diferentemente do amigo Govinda – não quis se converter às ideias do novo mestre. E, embora admirasse a calma e a força, e apreciasse a sua doutrina compassiva, algo o impedia de abraçar a sua fé. Não que as palavras do Buda soassem falsas. Ao contrário. Mas ele misteriosamente sabia que devia continuar a viagem, "não para procurar uma outra doutrina melhor, pois não há nenhuma, mas sim para abandonar todas as doutrinas e todos os mestres e alcançar sozinho a minha meta ou morrer", disse Sidarta.
A verdade, explica Hesse, não é o fruto de uma doutrina que um mestre transmite ao aluno, não é um saber codificado e aprendido. Mas sim uma predisposição da alma, um olhar livre e perdido dirigido ao pr óprio interior. É isso que Sidarta, também nisso diferentemente de Govinda, intui. Ele sabe que a viagem é mais importante do que a meta, e que se perder, ou se desviar da estrada reta, é igualmente necessário para se reencontrar.
O encontro com Kamala, a prostituta pela qual ele se apaixona, e o sucesso nos negócios que lhe sorri nos negócios arrastam, aparentemente, Sidarta a um turbilhão de brutais sensações. Na realidade, mesmo o mais ignóbil dos comportamentos faz parte de um projeto misterioso: "Ele tinha que descer ao mundo, perder-se no prazer e no poder, nas mulheres e no ouro, ele tinha que se tornar um mercador, um jogador de dados, um bêbado e um avarento, para que o sacerdote e o sâmana nele fossem mortos".
Hesse nos mostra as etapas de um redespertar e o caminho para alcançar a sabedoria. Que não é comunicável nem transmissível. Aporta -se nela na alternância da dor e do prazer, da queda e do renascimento, do samsara e do nirvana, da ilusão e da verdade: "De toda a verdade, o contrário também é verdadeiro", sentencia Sidarta.
E a verdade não é o fruto de uma doutrina, por mais nobre que possa ser, como a ensinada pelo Buda. A verdade – que indica com o próprio exemplo o barqueiro Vasudeva – era o acordo da própria voz com a voz do rio. Com a água que o compõe. E ela não é um princípio, não é um conceito, mas sim uma pura superfície sobre a qual se reflete a mente de Sidarta. A verdade que ele busca não é o logos ocidental: é a fluida a plenitude da mente que o rio encheu. Foi a mensagem que obscuramente milhões de leitores retiraram do livro.
Depois do Nobel, ganho em 1946, e os reconhecimentos de Thomas Mann, Stefan Zweig, Hugo Ball (equilib rados pelas críticas mordazes de Gottfried Benn), Hesse se tornou, relutantemente, um guru, uma fonte de iluminação espiritual, o testemunho de uma sabedoria vivida com sinceridade. Foi assim que Sidarta acabou na mochila daqueles jovens que, nos anos 1960, empreenderam a sua viagem de conhecimento ao Oriente. Uma moda que se espalhou da América à Europa": cúmplices foram a música, as drogas e uma vaga adesão ao misticismo.
Caravanas de jovens partiram à descoberta da Índia com a bênção dos poetas da Geração Beat e de algumas canções agradáveis. As palavras que Sidarta lhes havia ensinado – como tratamento contra as neuroses, a alienação, a agressividade – não estavam nos outros livros. Aquele sincero entusiasmo raramente foi tocado pela dúvida de que uma civilização, por mais que se possa amá-la, ainda assim é distante, difícil de penetrar e refratária aos entusiasmos fáceis.
Surpreendentemente, o herege Sidarta se tornou a mais adocicada realização do "super-homem" nietzscheano: com ele reviveram a morte e o renascimento de todos os valores. Acredito que aqui reside o mais sugestivo segredo do sucesso: ensinar a transgressão e a submissão. Fazer conviver o desvio e a norma. Aceitar a vida mudando o seu sentido.
Olhando bem, Sidarta foi o primeiro de uma infinita série de livros "pedagógicos", destinados a cuidar das nossas almas. Mesmo que hoje a Índia, senhora minha, não seja mais a de antigamente.
Por que os pensamentos tornam-se imagens oníricas ?
-
Uma das questões mais intrigantes para quem se debruça sobre os fenômenos
oníricos pode ser resumida pela seguinte questão: qual mecanismo poderia
expli...
Há 9 anos